A história se passa num contexto rural de uma vida bucólica,
em seu pequeno mundo encantado, com um misto de realidade e alternando situações
e acontecimentos abstratos, e uma
parte de vida urbana, entre suas memórias escolares.
A Velha Casa Personagens Inesquecíveis
Patinho Amarelo Banho Quente
Estripulias de
Menino
O Velho Pé de Ficus
Folhas Recortadas Personagens de um Cenário Urbano
Mundo Mágico Sementes ao Vento
Dias de Correria Pedra Sobre Pedra
Casa Grande Memórias Escolares
Tempos de Chuva
Personagens
Distintos
A Velha Casa
A velha casa, da Fazenda Gameleira, cuja data em que seu pai a restaurou para morar com sua mãe, está gravada
num cantinho da calçada da varanda.
Era uma casa grande, com cinco quartos, duas cozinhas, uma despensa de chão batido, duas salas e uma varanda. Pendurados na parede, como testemunhas de toda uma história de vida, os quadros com as fotos de sua família, em formato de elipse.
Cuidadosamente trabalhada em detalhes: Os homens de terno e gravata, e as mulheres com todos os adereços, editadas e pintadas, num tempo ainda sem os recursos do “fotoshop”, com o filho mais velho no centro, os pais acima, e o menino de dez anos na parte de baixo, formando o círculo da grande família. Ao lado ficava o quadro com a foto de seus avós, e no canto em cima de uma cantoneira, o velho lampião a querosene, que somente era aceso em ocasiões especiais.
Uma delas, era em algumas das noites do mês de janeiro, quando de repente na madrugada, eram todos despertados pelas batidas graves dos tambores, e os assovios das flautas dos foliões de reis. Às vezes passavam até três folias distintas, com suas cantigas entoadas com melodias religiosas. Noutra parede, ficava o cabideiro de pendurar os chapéus: um panamá, para usar em ocasiões especiais, e outros mais velhos. O velho chicote de cabo trançado, com uma argola entremeada no final do cabo.
Ao atravessar a porta que dava para a sala de jantar,
ficava pendurado acima, na parede,
o incansável e fiel senhor do tempo. Um relógio redondo de longos ponteiros, movidos por uma pilha grande, que durante muitos anos, marcou o tempo de
toda uma vida. Tempos em que os
ponteiros das horas, levavam uma eternidade para percorrer o grande círculo.
Nas noites em que o vento não assoviava nas bordas das
telhas, e sem a orquestra dos
grilos, e o cantar das corujas em cima da pedra –que um dia escorregou e
ficou derreada no lajedo em frente da casa– dava pra se ouvir o tic-tac de seus
longos ponteiros, que entrava pela noite adentro,
até o galo anunciar o raiar de mais um dia, com a
alvorada dos cardeais e João-de-barro, na mangueira nos fundos da casa, e não demora muito, o sol despontava
atrás da serra, iluminando mais um dia de aventuras, que não tinha
um roteiro pronto.
A sala de jantar era onde ficava o guarda-louça –uma cristaleira antiga, comprada quando seus pais se casaram– com as xícaras de colorex e todas as pratarias
e talheres que eram usados quando chegavam
visitas pra almoçar. Ao abrir dava pra sentir o inesquecível cheiro do sal de Andrews, que seu pai usava, do
leite de magnésio, das noz- moscadas,
guardadas em uma xícara, onde também ficava o dedal, que sua mãe usava para costurar e remendar as calças do marido.
Em cima ficava o fiel companheiro das
notícias, o rádio Philco de seis pilhas grandes,
que todas as noites, às dezenove horas, seu pai sentava ao lado, para ouvir a voz do Brasil.
O tremelicar da luz vermelha do candeeiro em cima do rádio, com seu clarear tímido, iluminando a parede mais próxima e deixando à meia luz as outras três, da grande sala de paredes brancas, com um filtro “São João” de três velas, em cima de uma cantoneira de três pernas, sempre com sua água fresca-gelada. O rádio era uma espécie de ponte, entre o mundo cotidiano e o mundo virtual, até então de sons, mas muito cheio de variedades. Às vezes, funcionava como “despertador”. Logo às cinco da manhã, todos eram acordados pela “latumia” do programa do Zé Bétio, mandando jogar água nos preguiçosos. Antes do almoço, era hora de ouvir o programa do Gil Gomes, com sua voz esticada, alongada, meio grave e incisiva, que gostava de prolongar as vogais, ao relatar casos policiais. Geralmente duravam mais de meia hora, como era na parte da manhã, os afazeres às vezes, não permitia que o menino soubesse o desfecho dos casos, o que lhe causava certa inquietude, pela frustração de não saber o final de determinada história.
À tarde as moças paravam para ouvir as radionovelas. Os
arranjos musicais e a voz dos protagonistas, eram mesclados por uma composição de sons dos mais variados. Um,
era a doce voz da moça do comercial da pomada para dor de ouvido (auris sedina):
–Se a criança acordoooou..., doooooorme..., doooooorme meniiiiiina!..., tudo calmo ficooooooou.... mamãe teeem auris- sediiiiinaaaa.
https://www.youtube.com/watch?v=aFwqQAePqf8
Outros, da natureza. O vento assoprando as folhas do pé de
manga ao fundo da casa, o som do
canto meio rouco e fora de hora, do galo dentro
da moita de bambú, com sua prole. As senhoras solteiras, sacolejando, tomando banho de terra, e outra pedrês, acolhendo
sob suas asas, seus curiosos
recém-saídos, das cascas, ainda de pluminhas
amarelas, experimentando algumas
folhas verdes, pra saber o que
pode e não se pode comer. Eles sem saber, tornando coadjuvantes da história.
Ainda tinha o canto –de
assopro de flauta– do anu de pés
pretos; em seu voo rasante do coqueiro e pousou no tamboril, que ficava próxima à caixa d’água, onde os
pacienciosos bois, bebiam água com um
bem-te-vi em seu lombo. Eles de cabeça baixa, matando sua sede, olhava por baixo, o joão-de-barro, que
sentou na beirada da caixa, assunta, bebe água, assunta
de novo e vai embora,
talvez pelo balançar do rabo de Bala Doce: cavalo
faceiro, inteiro, garanhão, – muito arriscado pra menino montar– que só se conseguia por-lhe o cabresto, depois de ter dado duas a três
voltas, nas duas hectares do mangueiro,
para só depois, aparar as clinas e limpar suas orelhas de cara branca, à sombra do pé de Ficus.
O outro cavalo: Garoto, era pacato, –cavalo manso de mulher andar– ficava
no outro mangueiro, senão, ficaria
com o pescoço em chagas,
pelas mordidas do seu desafeto, Bala Doce.
Os tizius e coleirinhas se equilibrando nos frágeis galhos de marmeladas, comendo suas sementes,
disputando espaço com os franguinhos; alguns de pescoço
pelado com suas cristas de adolescente já despontando, e arriscando a sua independência, andando de grupinhos de
seis, longe dos croques-croques de sua mãe pedrês.
Em épocas de chuva, o mangueiro ficava todo colorido com cores alaranjadas, contrastando com o verde do capim. Uma planta conhecida como cordão de frade, decorado com bolinhas verdes felpudas, feito a abajures decorados, rodeado de florzinhas alaranjadas e adocicadas cheias de néctar. Iguaria muito apreciada e disputadas pelos moleques –de pernas arranhadas pelo alto capim colonial– e pelos beija-flores que sobrevoam por sobre as plantas –como se fossem aviões coloridos, perfilados em demonstração de desfile cívico. Quando secas, se transformavam em brinquedos –formando um eixo perfeito de duas rodas de trator– que empurrados com um gancho, iam deixando rastros na terra seca, devido à sua superfície meio espinhosa.
Descendo a pisada do batente de uns vinte centímetros de
altura, chegava-se numa outra sala. Tinha o lavador de rosto com duas bacias e um jarro de esmalte branco, –utensílios obrigatórios de uma época. Tinha uma mesa grande que também era usada por sua mãe, pra cortar os panos, que depois eram costurados na inseparável máquina Singer, que quando não está sendo
usada e num descuido de sua mãe, os pequenos
a usavam pedalando
o pé que movia a roda,
imaginando ser uma bicicleta. Os cortes eram marcados com uma carretilha de costura, cujas marcas ficaram
vincadas na mesa, registrando
o ofício de uma época. Atrás da portinhola de madeira, que dava pra escada, ficava o ferro de passar roupa, quando as
brasas ficavam acanhadas, era usado o
fole para reacendê-las para que as calças
ficassem bem vincadas, porque no outro dia, seu pai tinha que ir até
a cidade.
Tinha um alpendre
onde os menores da casa, ficavam sentados,
aparando água da chuva nas biqueiras das telhas, de onde ficavam olhando
se os carcarás não estavam
arrancando os amendoins, plantados numa área logo abaixo do pé de abacate. Onde de vez em quando,
eram vistos saruês comendo seus frutos, ou escondidos, esperando a noite cair, pra atacar o
poleiro de galinha que sempre estava
cheio de frangos ou atacar o poleiro das galinhas de pinto. Na parede da cozinha sempre o imprescindível
jogo de porta talheres, e outro das
tampas, os panos da prateleira e o forro da mesa, sempre combinando as estampas,
costurados por sua mãe, assim que o anterior
ficasse desbotado e meio sem graça. O banco com
os potes de água fresca e o fogão de seis trempes
que se acendia somente à noite. E em
tempos de andu, rodeava-se quatro ou cinco em torno de uma peneira, juntamente com o pai, para
debulhar andu, e fazer a farofa com
manteiga de garrafa no almoço do dia seguinte. Lá numa área onde ficava o forno e o pilão de angico, que ora era usado para
pilar arroz, ora para tirar o corante
com o fino pó de farinha, ora para pilar café, que depois de torrado, era moído no pilão, cujo “cheirinho” bom de
café, cortinava por toda casa. Encostada no forno, a velha fornalha,
que era usada pra fazer os doces de leite, ou fritar os toucinhos dos porcos que eram abatidos, –que de tão gordo que ficavam, não aguentavam mais se levantar – ou fazer sabão em um grande tacho de cobre. E em tempos de
milho verde, esse tacho, ficava cheio de pamonhas
cozinhando, enquanto outras eram amarradas pelas muitas mulheres,
que se ajuntavam para fazer pamonha, que geralmente ocupava
o dia todo.
Quando era pra se fazer farinha, era usada da “casa da
roda” da casa do Sr. “Vei Miguel”. A
lida começava antes do sol despontar atrás da
Serra do Anastácio, que ao amanhecer, já estavam arrancadas, de seis a dez bruacas de mandiocas, que eram
trazidas para a casa da roda, onde
meia dúzia ou mais de mulheres, de sorrisos abertos com seus lenços estampados na cabeça, raspavam,
e rasgavam a garganta dando risadas.
O dia de labuta, só finalizava à noite com a torrada
de farinha, iluminada pelos candeeiros, regada de
boas risadas, café e também uma ou duas doses de “limpa garganta” da boa, –pra quem apreciava– pra
não quebrar o ritmo das conchadas, das pás feitas de cabaça. Os braços à essa hora, já pedem arrego, devido a dança
de jogar de mãos, pra direita e pra
esquerda e sempre jogando a farinha pra
cima, deixando os cabelos –que
teimavam em sair na beirada do lenço– já
embranquecidos, pelos tantos anos de labuta, mais brancos ainda.
A grande casa da gameleira, ficava a um pipoco de bomba de foguete, distante do pé da Serra do Anastácio. Até então, município de Águas Vermelhas/MG. Tinha a sua frente voltada para o por do sol, onde nas tardes ensolaradas da primavera e do verão, o sol clareava até à soleira da porta que dava para a sala. Tinha o telhado com três quedas d’água, e o lado direito inclinado em declive pro lado da serra, pra que as chuvas de dezembro, não desbarrancasse a parede caiada de branco, que às vezes de tão branca, ofuscava a visão de rolinhas, que frequentemente batiam e caiam na calçada de –pedras irregulares, rejuntadas de cimento– que eram logo abocanhadas pela gata marisca, que já ficava à espreita, adentrando-se pela moita de bambu. Desta moita, eram retiradas as varas dos anzóis pra pescar as piabas no rio da gameleira. O pé da calçada, era decorado com os resistentes pés de boa-noite, com suas flores brancas e vermelhas em forma de pequenas sombrinhas; onde de vez em quando, descuidados mangangás que vinham sobrevoar suas flores, subiam e adentravam pela janela do quarto da varanda, com seu piso de ladrilho branco. Na janela quando aberta, sempre ficava a tranca, inclinada em 45 graus, encravada entre os portais, mantendo sempre aberta com vista para a imponente Serra do Anastácio.
Um zumbido grave ao longe, que parecia de um pequeno avião,
que vinha se tornando mais intenso, mas era de um Mangangá,
que chamou a atenção de um
menino de 10 anos. Ele estava deitado, em seu
raro descanso do meio-dia, no catre trançado com tiras de couro e colchão
de paina, com o lençol “florado”, cuidadosamente assoprando as cinzas dos capins, para que não ficasse impresso o rastro de suas mãos no lençol, –
recentemente lavado por Laura, no lajedo
do rio nos fundos da casa de Dona Atiza. As cinzas dos capinzais que mesmo queimados ao longe, viajara ao
sabor dos ventos, entrara pelas
frestas das telhas e sutilmente, pousavam no lençol frio, do quarto de ladrilhos, com dois catres:
sendo um, usado por seu tio “Zé Gome”. Deitado num deles, estava a observar os feixes de luz que entravam por entre as frestas das telhas brancas,
criando uma cortina iluminada cheias de partículas subindo
e descendo como se fosse um holograma, criando um cenário de filme
de ficção. Este “pequeno avião”,
desviara a sua atenção e seus olhos agora, acompanhava-o em seu voo de zigue-zague, que logo passou
por uma porta –com seus largos batentes
pintados de tinta à óleo azul– e já estava na varanda de piso de cimento queimado com xadrez
vermelho, até sair pela janela da varanda.
Na gaveta da penteadeira do quarto de casal, além das
cartelas de drágeas e os comprimidos,
para quase todo tipo de mal-estar, estava também
o caderno de anotações. Era onde seu pai apontava, com sua caligrafia meio trêmula, os fornecimentos dos meeiros que eram acertados somente ao final do ano, com os
mantimentos em forma de moeda, colhidos por eles.
Após a morte de seu pai, em 21 de julho de 2010, estava ele olhando
a sua valise, que tantas vezes fora usada em suas viagens a negócios. Estava cheia de fotos
e documentos históricos.
Um deles de uma importância muito grande, onde ele se emocionou, ao verificar que era a caligrafia do seu pai. Pôs se a ler, era uma oração que imagina ele, teria sido a sua avó Dona Emília que pedira a seu pai Adenor, que escrevesse, e sempre levasse consigo para lhe trazer proteção. Datava de 30 de maio de 1951, seu pai então, com seus vinte e um anos de idade. Aí ele voltou no tempo tentando imaginar em que circunstâncias, ele escrevera aquela oração, se foi à luz de candeeiro ou sentado na calçada em uma tarde de domingo com a sua mãe Dona Emília recitando em forma de oração, para que Nossa Senhora protegesse seu filho em suas andanças.
A casa grande de Dona Emília com um grande quintal com seus pés de araçás, onde esse menino também brincava com seu inseparável amigo “Ilto”. Tinha um depósito velho, que ao adentrar, se sentia o cheirinho bom das bananas que sua avó punha pra amadurecer. Essa casa, foi cenário de uma travessura. Em uma tarde de domingo, seus pais o deixaram com sua avó, pra fazer uma viagem a um lugarejo chamado Berizal. E enquanto o som dos cascos dos cavalos, iam se esvaindo por entre a poeira meio avermelhada na ladeira que dava rumo a esse lugarejo, o menino já começava a se entristecer com saudades de sua casa. E num piscar de olhos, fora encontrado por um senhor moreno de nome “João Meia Noite”, montado em mula preta, já na ponte sobre o rio do Saco de Dentro. E indagado pelo cavaleiro, ele disse que estava indo embora. Mas o cavaleiro, vendo que o minúsculo menino estava perdido, puxou-o pelo braço sem precisar apear de sua mula, o pôs no cabeçote da sela, e o levou de volta para a sua avó, que já estava muito preocupada, procurando por ele. O cavaleiro entregou o menino, que antes de tomar um café com bolo de puba, havia ganhado umas palmadas, para nunca mais se aventurar sozinho por essas estradas.
Antes da casa de sua avó, morava o seu tio, Nenzinho Pereira. Era uma casa moderna, com seu piso vermelho –de cimento queimado, cuidadosamente encerado com cera colmeína1– Seu telhado, era coberto por telhas francesas, com um grande curral em frente à casa. Quase todas as tardes, ficava um “mar branco”, pelas dezenas de cabeças de gado –principalmente em épocas de visitas dos famosos compradores de gado. Cujo curral era todo construído de pranchas de aroeira, encravadas em mourões cuidadosamente serrados, com suas pontas em formato piramidal pintadas de branco –como se fosse torre de pequenas igrejinhas de cidades do interior– e as andorinhas completavam o cenário, com seu sobrevoo rasante, pousando nessas pequenas torres. Até a seringa de apartar os bezerros, era coberta por telhas francesas, com um grande tronco ao centro, sustentando toda a estrutura do telhado. Bom mesmo era à noite, quando a casa ficava toda iluminada pela claridade das luzes à gás, que se interligavam por um fino cano para cada cômodo, por onde o gás era canalizado. Para o menino era uma novidade, porque na sua casa não tinha esse tipo de iluminação.
1Cera pastosa que se vendia em uma pequena lata redonda de 450 gr., depois de passada no piso, tinha que se escovar com um “escovão” pra dar brilho.
Patinho Amarelo
Um curral que todos os dias à tarde ficava cheio de vacas brancas. Num certo dia, se transformara num estacionamento, de carros coloridos: pick-up, jeeps, fusquinha e brasílias. Os cavalos eram amarrados perfilados nos moirões da cerca do mangueiro. Em sua maioria, as mulheres vinham à pé com uma das mãos segurando suas sombrinhas coloridas, e na outra, um feixe de flores que às vezes já chegavam meio murchas, devido o balançar de braços, desviando dos galhos de vegetação que caíam sobre os velhos carreiros por onde se cortava o caminho pra diminuir a distância.
Colorido também, era o patinho bordado, na jardineira azul do menino, que o tempo desbotou, mas não se apagou da memória – patinho amarelo tal qual os ipês que floresciam no mês de agosto, no boqueirão que se estendia acima, no sentido do lado direito da casa. Assentado na calçada vendo todo aquele entra e sai, sem entender talvez pela sua tenra idade –que não chegava a cinco anos ainda– porque sua avó paterna “Dona Emília”, estava deitada na varanda da casa do seu Tio Nenzinho, toda enfeitada de flores.
Já noutro entra e sai desse, –ele já com seus quase seis anos– foi no velório do seu Avô Materno, “Neco Gomes”. Após uma longa noite de velório, no dia seguinte, o cortejo seguiu na pick-up de seu pai, numa tarde chuvosa de 04 de janeiro de 1974, para ser sepultado no lugarejo chamado Curral de Dentro. Após a saída, ficou-se um início de noite triste, acinzentado, onde uma mulher meio baixa e de sorriso fácil, ficou com os pequenos da casa até seus pais voltarem do sepulto –só se soube bem depois, que essa mulher era sua irmã por parte de pai, casada com o vaqueiro “Geraldo Vaqueiro”.
Desse dia se lembra ainda, dum misto de cheiro de vela queimando, cheiro de flores e um cheiro de café que sua tia Joana estava desempacotando no terreiro logo após o “depós”. Era um cheiro diferente, porque era a primeira vez que ele via café industrializado e que já vinha moído e empacotado. Não se sabe o porque de se ter comprado café, visto que tinha uma chácara de café no quintal da casa.
Estripulias de Menino
Os carros de seu pai – o carro de boi e a pick-up – eram guardados em uma cobertura de esteios, ao lado do curral um pouco acima da casa, que também era usada para guardar a lenha. Em uma tarde de domingo, estava ele todo alegre, com sua camisa nova, atrás da pick-up, ansioso para mais um passeio, quando de repente, uma explosão, igual ao tiro de garrucha de dois canos. O pequeno menino fora atingido, desceu correndo e gritando, assentou-se na calçada com a camisa toda manchada de preto, sem entender o que havia acontecido. Algum outro moleque travesso, tinha introduzido um maxixe no escapamento do carro, e quando deu a partida, o fruto fora arremessado com toda força, e o atingiu. Depois desse episódio, ao ver um caminhão vindo soltando aquela fumaça preta, já procurava distanciar-se, com medo de ser alvejado novamente.
✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻
2Cobertura de duas águas,
construída ao lado da casa de morada
pra se guardar carro-de-boi, e amarrar
cavalo pra esperar chuva passar.
O zigue-zague do cavalo desviando dos galhos de jurema, debruçados à beira do caminho, o sobe-e-desce das pedras, pisando em areias finas e secas, deixadas pelas enxurradas ao pé dos barrancos do carreiro, todo em degraus esculpidos pelas chuvas, e sobre a sela um cavaleiro; uma mão segurando o grande prato de comida apoiado em cima da cabeça da sela, outra afastando os galhos para alargar o caminho. A sela afrouxando cada vez mais, já alcançando a anca do cavalo pampa. E num estalo de dedo, o pequeno cavaleiro caiu de pé com o prato na mão. O cavalo que até então, vinha quase cochilando pensativo, agora assoprava, dava pinote em círculos. Desceu veloz ladeira abaixo quebrando a sela, rasgando sua pela grossa, de duas cores, nos espinhos de jurema, até chegar no curral. Após a deixada da encomenda que levara para os camaradas, estava descendo e ajuntando o que sobrou da sela, vinha vindo sua irmã mais nova; Ivanete, subindo o carreiro de cabelos esvoaçados, tremendo –igual leitão em chiqueiro de terra encharcado, nas manhãs frias de chuva de inverno– não conseguia nem falar, com pensamentos ruins sobre o que poderia ter acontecido com o seu irmão. Mas logo seu coração sossegou, e o sangue circulou novamente nas bochechas branco-gelo, da mocinha assustada, ao ver o pequeno cavaleiro, sem nenhum arranhão –além dos costumeiros nas canelas– também assustado, mas pelos arreios do cavalo que estavam aos farrapos e teria que dar contas ao seu pai.
✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻
Uma caixa de fósforos em cima do batente vermelho de cimento queimado, do fogão à lenha. A tarde já se anunciava, mas o chaminé ainda estava morno do almoço daquele dia de estalos, como se fosse fogos estourando, em festa junina. Um muro de adobe com telhas mal encaixadas, outras quebradas, outras um pedaço sobre o outro, mas nada difícil de pular, ainda mais prum moleque arteiro, acostumado a subir em altas mangueiras, e até umbuzeiro. O vento assoprava forte a folhagem densa-seca da moita de bananeiras, que ficava no grande quintal 3, –que mais se parecia uma fazenda– e num piscar de olhos, a caixa de fósforos logo já não mais estava ali no cantinho da chaminé. Logo já se ouvia os estalos fortes das folhas verdes entremeadas às secas queimando arduamente em grandes labaredas, fazendo grandes ondas de fumaça desenrolando céu acima, que assustavam não só as andorinhas sobrevoando ao redor, mas também ao menino de onze anos, que num pulo já se encontrava assentado num banco da praça. O roncar dos motores dos caminhões Chevrolet D604, ou dos Mercedes 1113 que subiam a rua, –carregados de tijolinhos brancos e areia– se tornava baixo em função do barulho das batidas do seu coração, que quase saltava peito afora, ao ver dali da praça, a grande cortina de fumaça que subia nos fundos de sua casa. Talvez tivesse rogado aos santos da Igreja Matriz ali ao lado, pra que o fogo cessasse. Depois de longa e aflita meia hora, retornou, ainda com as batidas desordenadas e olhar cabisbaixo, pisando em ovos, pra ver o chão preto ainda em fumaças com um umbuzeiro meio chamuscado pelas chamas. Não se soube a causa deste incêndio misterioso. Decerto tenha sido faíscas dos aviões monomotores que sobrevoavam baixo em descida para pousar no campo de avião; ou seria faísca saída da torre da empresa de telefonia, que ficava há uns 70, 80 metros.
3 Era o quintal do Sr. Izalino Miranda, era lugar pra se caçar rolinhas, figas, pardal e surrupiar diversas frutas. Fazia limite aos fundos com o quintal da casa da até então Rua Francisco Sá nº 419
4 Nessa época o movimento desses caminhões era intenso, visto que a cidade ainda estava se fazendo a partir da Rua Santa Luzia, e não era muito usual se usar blocos de cerâmica nas construções, principalmente em muros, diziam que os moleques furava todo o muro com pedradas de estilingue
✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻
Um rapazinho assentado à sombra da calçada, cuidando da sua mais nova aquisição, viu outro, ao longe, descendo em disparada, a ladeira –de pedras soltas e cristalinas, lugar onde-se catava pedras pra estilingue– que vinha da casa do Sr. Tintino Bandeira. Era seu primo Ilton, que veio a passeio, de Taiobeiras à Fazenda Gameleira e foi até sua casa. Encontrou-o assentado na calçada, dando uma papa para uma meia dúzia de filhotes de periquito “jandainha”. Após se recobrar o fôlego da descida em disparada, ficou estatelado e disse que aqueles filhotes não escapariam por estarem muito miúdos e –ainda de bundinha de fora–, quase sem nenhuma pelagem. Feliz pela visita do primo, mas não escondendo o desapontamento, era quase um desencantamento, visto que sempre quis ter aqueles “passarozinhos verdes”, não criados em gaiolas, mas como animais de estimação. Ainda na tardinha, do mesmo dia, após a despedida de seu primo, amassou um barro pôs num saco, juntou os pequeninos despenados, a casa de João-de-Barro, que retirara d´uma umburana, uns dois dias antes, próximo de sua casa, amoitada entre pés de umbu, aroeira e alecrins. Corria um corregozinho d’água fria, minado ali mesmo, debaixo das pedras. Escalou a árvore de tronco grosso –que dava uma volta de abraço de menino–, com um saco de traia nas costas. Após fixá-la na mesma galha que havia retirado a casa dos filhotinhos assustados, desceu apanhou cuidadosamente a prole barulhenta, escalou novamente, e agasalhou-os em seu ninho. No outro dia foram encontrados caídos ao chão, na fria e úmida areia –à beira dum fio d’água fria que corria silencioso, mas que em épocas de chuva, rolava os umbus e até grandes pedras rio abaixo– talvez por ficarem inquietos, ou por seus pais não terem voltado para alimentá-los. Isso causou-lhe um profundo sentimento de culpa.
✻✻✻✻✻✻🕜🕝🕝🕜✻✻✻✻✻✻
A gasolina que fazia a pick-up andar, agora fazia o mundo girar pra ele, tudo porque tentou com uma mangueira, retirar um pouco de gasolina do tanque do carro. Mas como a mangueira não havia descido até o nível da gasolina, ficou no meio, e quando puxava com a mangueira na boca, se inalava aquela somente a evaporação, que logo o deixou meio tonto e por tentar umas três vezes, já saiu quase bêbado. Desceu a “ladeirinha” que dava pra “casa do carro”, passou pela cozinha –que já estava maior do que de costume– passou pela sala do lavatório de rosto, cujo espelho refletia seu rosto embaçado, desceu a escada que dava para o quintal, rodeou o banheiro e foi se sentar na calçada de pedras atrás da casa. Uma parede branca com cinco janelas, que passa girando; cinco lagartixas que passeia pela parede; uma moita de bambu que passa girando; a cerca do mangueiro que passa rodando; um pé de palma entremeado num pé de umbu passa rodando. Passa o galo que passa de novo; canta o João-de-barro; canta o cardeal; o vento que sopra; o céu que se torna meio cinza, –com grandes coelhos transformando-se em dragões. Passa o cachorro que passa de novo e passa de novo; o gato branco –que o chamavam de Zé Branco– a roçar em suas pernas, – que parece perceber que aquele menino não está passando bem. Vem seu pai, que gira com uma latinha de azeite na mão. Mas que finalmente, consegue lhe dá uma colher para que beba. Logo logo, a moita de bambu ficou parada, o cachorro deitado ao seu lado junto com o gato, que estava à espreita na única lagartixa, que antes de tomar a colher de azeite, eram cinco.
O Velho Pé de Ficus
Os descansos diários
de seu pai, após o almoço, eram sagrados.
Às vezes eram na velha espreguiçadeira que ficava ao lado da janela, que enquadrava, emoldurando a
antiga ladeira como pano de fundo.
Que outrora descia carros, agora somente desce cavaleiros ou pessoas a pé. E a primeira visão que se
tem da casa, ao descer por essa
ladeira, é a fumaça saindo do fogão de fora, que é aceso de manhã bem cedo e só se apaga à noite.
Via-se também, a copa do velho pé de Ficus, árvore que também era a anfitriã das
visitas que chegavam com o sol a
pino, e sentavam-se à sua sombra e geralmente
pediam um copo d’água. Costumeiramente eram trazidos dois, em uma espécie de bandeja, caso o primeiro
não desse pra saciar a sede, oferecia-se
o segundo. Como no dia em que uns homens com suas fardas marrons, –que lembrava
também dos uniformes
dos funcionários da antiga SUCAM– que pararam embaixo da sombra para descansarem. Estavam à procura de um
meliante que, dias atrás, sacara de
uma peixeira e matara um homem, lá na fazenda saco de dentro. O menino curioso, e meio receoso, fitava os olhos nas
armas dos homens de farda marrom, que
depois de tomarem água e também um
café, subiram a cerca, atravessaram o mangueiro, e continuaram sua busca rumo à Serra
do Anastácio.
Geralmente as prosas embaixo da velha árvore, prolongavam-se por um bom tempo, na brisa suave e perfumada exalada pelas sedosas e perfumadas flores brancas da espirradeira, planta que ficava à sombra do seu protetor maior. Às vezes o assunto era sobre sociedade de gado, outra hora o acerto da manga que fora roçada, outra hora sobre a preparação da terra para plantar. Os assuntos eram os mais variados, causos e histórias contados por inúmeros visitantes, com um dialético regional de uma variação de expressão linguística muito peculiar, que muitas vezes, não era compreendido por um menino que ficava à espreita “assuntando” a conversa dos adultos. “ínhá7, pispiá8, ontonte9, isso num ostra não10”... expressões que só seriam compreendidos mais tarde, com o passar dos tempos. E essa interação só era quebrada entre um canto e outro, de um tico-tico, ou de uma rolinha sentados nos enormes pés de eucalipto, que ficavam à beira da cerca do mangueiro, onde só hospedava somente animais ilustres: o cavalo de estima de seu pai, o Bala-doce, a parelha de boi, Brasil e Maringá e uma “jeguinha” que era usada para trazer os “vasilhões” galões de leite, lá da casa de Geraldo Vaqueiro. Os sons se misturavam em uma melodia variada, o canto das figas que ficavam nos galhos comendo as sementes do Ficus, o relincho do cavalo bala-doce ou o canto de uma galinha no mangueiro, onde o menino saia correndo para procurar o ninho e voltava com a blusa cheia de ovos, e as canelinhas arranhadas e coçando cortadas pelo capim colonião, que media duas alturas do menino. Nesse mesmo tempo, já permeava o cheiro do café que vinha lá do fogão de fora, onde sua mãe, já punha o queijo cortado em cima da mesa da cozinha; o qual já estava faltando uma fatia, dado pela mãe, ou ligeiramente retirada por um menino levado.
7 O que a senhora disse? oi ... não entendi ...“inhá”
8 Começou a chover, mas parou.... iniciou
“Pispiô chover e parou logo”,
9 Antes
de ontem “Ontonte”
10 Não obsta. Que serve de obstáculo. / Opor-se,
contrariar, impedir. “Isso num ostra não
ta assim sem nuvem, mas pode formar
e chover mais tarde”
11 Um tipo de marimbondo miúdo,
mas de agulha bem quente, eles o conheciam por marimbondo “inchu”
Folhas Recortadas
Num tempo ainda sem as mensagens rápidas
e instantâneas do WhatsApp, mas já no ano de 2002, a rapidez mesmo, eram dos passos
apressados de sua mãe, Maria Júlia. Num pé lá e outro cá, percorria
o carreiro que margeava a cerca do mangueiro, num percurso
os 260 metros, –mas prevenida com um cipó na mão pra não ser surpreendida por algum cachorro de rabo fino e atrevido
deitado à beira da cerca na chegada
da casa de Dona “Senhora de Lero” – para levar
o bilhete antes que o ônibus da escola levantasse poeira na estrada, e não desse tempo de entregar o
bilhete na casa “Jú de Lero”. Os bilhetes
eram entregues para os meninos
que estudavam em Curral de Dentro, entregar
ao seu filho Renilson, que trabalhava numa
escola naquela cidade.
Os bilhetes geralmente eram pra comprar alguma coisa, que seria trazida por seu filhos que costumeiramente chegava depois das 13:00 horas, ainda pra almoçar.
Renilson
Eu alembrei
do nome do veneno da “furmiga” pequena,
é o malagran, falei com você aqui tava errado,
não sei se está certo,
porque não tem ele comprado
viu.
Maria Júlia.
Você
telefona pra Vaina que urbanil está pouco,
se puder manda pra mim viu,
e o da pressão Diovan.
Maria Júlia.
As mãos já sem a mesma “ligeireza” de décadas atrás, que se deslizava a tesoura cortando os panos pra costurar. Mãos já de pele “engrossada” –pelas altas temperaturas das águas ferventes que cozinhava a massa do queijo– guiava a caneta sempre grafando uma letra de cada vez, erguendo-a e continuando até formar a palavra, num ritmo devagar –totalmente destoante do seu andar apressado de estalar o quadril– mas sempre concentrada no assunto que era pra ser escrito, até finalizar com sua assinatura caprichosamente grafada com caneta Bic ponta grossa. A assinatura sempre iniciada pela “voltinha” da letra M, igualmente se escrevia com a seringa sendo apertada, para escrever os biscoitos de seringa nas latas já untadas com óleo pra que os biscoitos não ficassem “garrados” pois ainda teria que se escrever muitas outras letras em formatos de biscoitos, para serem assadas antes que o forno se amornasse, e correr o risco dos biscoitos não ficarem "rechonchudos" e sequinhos.
Depois de escritos, eram cuidadosamente recortados –com a
mesma tesoura, que tantas vezes fora
usada por muitos anos para cortar os panos,
ora pra roupas, ora pra novos jogos de panos de prateleira– margeando o texto escrito, depois era
dobrado –como se dobrava as fronhas depois de alisadas
com o ferro a brasa– ficando de um tamanho que coubesse no bolso pra não
sumir pela estrada, com o sacolejar do ônibus.
Mundo Mágico
Naquele tempo, este mundo se limitava à linha do horizonte. O pequeno menino achava que o mundo iria somente até a curva do horizonte, é como se este pequeno mundo, coubesse dentro de uma redoma de cristal e tinha tudo que ele precisava. O convívio com as pessoas, muitas frutas e brinquedos, alguns imaginários outros reais. Como o cavalo que tinha atravessado no rio no fundo da casa de Dona Preta, um cipó escada de macaco, que ele e outros balançavam. Era um grande “dragão”, que aguentava todos balançando em seu lombo cheio de ondulações. Mas esse grande dragão, um dia foi levado por essas águas revoltas, em dia de enchente. Como a imaginação, não tinha limites, e ultrapassava as fronteiras do mundo real, até as pedrinhas de formato exclusivo, na imaginação fértil daqueles meninos, se transformavam em vaquinhas, que precisavam ser levadas em comitiva de uma fazenda à outra, pelos pequenos vaqueiros. Os búzios, achados em meio à vegetação rasteira das pastagens, soltos, quem sabe propositalmente deixados pelos caracóis, para que também, pudesse se soltar a imaginação daqueles meninos, transformando-os em cavalos; porque o rastro que ele deixava ao ser pressionado na terra, ficava a marca da pata de um cavalo. Era uma grande euforia, quando se encontrava um “cavalo de porcelana”. Os carros feitos de umburana12 ou de latas quadradas de óleo mariflor, estes feitos por Elson filho do vaqueiro “Geraldo Vaqueiro”, onde as luzes de freio, eram as brasas, que colocadas dentro pra “alumiar de noite”.
Às vezes, as brincadeiras e a inteiração com esse vasto
mundo rural e bucólico era repentinamente
quebrada, por um som que vinha de longe, ecoando por entre as nuvens, sem saber em qual direção
olhar, até que se avistava. Era um
pequeno avião, que de vez em quando, passava por sobre o mundo encantado
desse menino. Era uma imagem que além de bonita,
instigava a sua imaginação, de onde vem, pra onde iria, quem estaria lá
dentro, avistando a imensidão d e mundo,
além daquele ao qual ele conhecia, e sempre imaginando como esse avião poderia atravessar a redoma que cobria o seu mundo, e ia olhando até ficar do tamanho
de uma semente de cardo santo –planta que nascia sempre à beira do curral, em épocas de chuva–
e desaparecer por completo entre os enormes coelhos, ou às vezes grandes cavalos brancos no céu.
Nuvens brancas, feito bolas de algodão, iguais às que ficavam no balaio em cima do jirau da despensa.
12
Árvore de
madeira mole, ideal para se fazer
artesanato em madeira. Quase sempre onde se
tem uma umburana, terá também como companheiro, um pé de umbu.
Quase sempre, eu gostava de ficar sentado na soleira da porta da despensa que tinha seu piso de terra batida, elevando um pouco mais alto em relação ao piso de tijolos de ladrilhos da cozinha. Esta soleira era um lugar muito proposital de se sentar, pois podia se sentir o cheiro dos biscoitos de seringa, de queijo e de goma passada, guardados em latas que ficavam em cima do jirau. Era um cômodo que exalava muitas essências. Além do cheiro de queijo perfilados na prateleira suspensa na parede –senão os gatos poderiam abocanhar algum. Dava pra se sentir uma espécie de fragrância adocicada, o cheiro das mangas rosas que meu pai punha pra amadurecer dentro do balaio onde era guardado o algodão pra se fazer as puxadas para os candeeiros, e também usado para passar sabão russo ou álcool nos aranhões das “canelas” dos meninos sapecas. Mas não podia pegar, só quando meu pai pegava e descascava com o seu canivete de cabo de chifre. Mas de vez em quando, algumas dessas mangas sumiam misteriosamente, talvez fossem sorrateiramente retiradas e levadas na carreira.
De manhã, tinha o dia de tomar leite escaldado, –leite com farinha e açúcar em um copo de esmalte deixava em cima da chapa quente do fogão, e ia mexendo até ficar cremoso– aliás, se tomasse leite antes do almoço, só podia chupar manda depois do almoço e vice-versa. Os adultos falavam “leite com manga intoxica, e a pessoa morre”. Em época das férias escolares, todos os seus irmãos iam pra fazenda, e à noite sentavam todos no fogão e quando não tinha milho alho, jogava-se milho comum entre as cinzas quentes, para comer uma pipoca que não abria em flor, mas somente o botão, mas soprava-se o excesso de cinzas e pronto, estava como se fosse as pipocas que o Sr. “Miro Pipoqueiro”13 vendia em seu carrinho, pelas ruas de Taiobeiras.
Quando seu pai estava pra Taiobeiras, ficavam todos na
expectativa da sua chegada. Quando se
via um clarão do outro lado do rio, era aquela
correria, “Nem” está vindo, atiça o fogo pra ferver a água pra ele banhar. Os menores, na expectativa das
balas de amendoim, nata, mel e a
predileta, coco queimado, que eram dadas de três ou quatro para cada expectador. O farol refletia quase no
mesmo ponto do morro, em que a lua nascia,
bela e majestosa, e em noites de lua cheia,
parecia um enorme sonrisal brilhante
e gigante. Em uma dessas noites, todos sentados no fogão, em
que o farol refletiu como sempre, uma
de suas irmãs disse: “que um dia tudo isso iria acabar, o farol não iria mais refletir nas noites de
quarta e sábado”. Ela estava certa, mas certo é também, que jamais irá apagar aquele clarão e todas
as imagens e lembranças que nortearam suas vidas. Em tempos, que o tempo era infinito,
o dia demorava uma eternidade
para passar.
Era tanto entretenimento, que só se sabia quando que já era
o fim do dia, quando o sol se
sucumbia lá atrás da capoeira, com o crepúsculo anunciando que era hora de fechar as galinhas, dar milho para os porcos e cortar lenha pro fogão de dentro
e pro fogão de fora, pra amanhecer boa pra
acender o fogo no dia seguinte.
As noites eram muito aguardadas, principalmente em noites estreladas,
em que todos sentavam na calçada da varanda, pra ver as estrelas, o cruzeiro
do sul, as três marias,
e tentando ver quem conseguia
contar mais estrelas.
E quase sempre, todas as noites, cruzava no sentido leste-oeste, um corpo
brilhante iluminado, que possivelmente
fosse um satélite, mas os mais velhos falavam que era um aparelho, que os olhinhos
curiosos o acompanhava até desaparecer por
entre as milhares de estrelas. Em outras noites, iam todos para a casa do Senhor “Lero” – quando ele não estava muito cansado – pra ouvir as suas histórias de Pedro Malazart e tantas outras, cheias de magia e encantamentos,
que eram narradas com muito realismo
e cheias de expressões corporais de um verdadeiro ator. Todos e principalmente as crianças, ficavam
encantadas, contemplando todas
essas histórias, que de certa forma, alimentava o imaginário e as vivências pueris daqueles meninos.
Tão sorridente e alegre, quanto ao seu pai contador de
causos, era a filha mais nova de Lero e Dona Senhora. Ernita, “Nitinha” como
era conhecida apesar da sua dificuldade de locomoção, por ter sido acometida por
uma Poliomelite (Paralisia Infantil) desde os sete anos de idade. Mas tal
problema, não a impedia de se locomover pela casa, e não lhe tirou a alegria. Cujos
sorrisos, podiam ser ouvidos na casa do Senhor Nen Pereira, que ficava há pouco
mais de 300 passos largos dum adulto, como os do Senhor Miguel, que encurtava
as distâncias com seus passos alongados e cadenciados –difícil pra menino de
pernas curtas acompanhar. Em época de férias, a casa ficava cheia das suas
filhas moças estudantes na cidade de Taiobeiras, onde vinham também os dois
filhos mais novos: um menino e uma menina, que num piscar de olho, estavam na
casa de Lero, seguindo por um carreiro à beira do arame do mangueiro, sempre percorrido
às carreiras, pelos mais pequenos, sempre eufóricos. Pras meninas brincadeiras
de bonecas de pano e até espigas de milho verde ainda novinhas –que se tornavam
lindas meninas de cabelos loiros penteados– e pros meninos, brincadeiras de vaquinhas de
pedra ou de argila, feitas do barro retirado à beira do barranco do rio. Em épocas
de cheia, servia de escola de natação, pra se aprender a nadar com cabaças
amarradas ao corpo, ou boiando sobre pedaços de isopor e até troncos de bananeiras.
Nos meses de maio a junho, era tempo de secar o café, que após a colheita, entrava em cena os meninos das férias de julho. Catavam os grãos que por ventura, ficaram escondidos entre as folhas nos pés de café, ou embolados junto com o tapete de folhas que se formava debaixo de cada cafeeiro. Onde as galinhas que ficavam ciscando na chácara, também ajudavam a achar os disputados grãos. Ficavam muito felizes, quando se enchia a “cumbuca” de coco da bahia, já antecipando a alegria de se poder comprar aquela bola de plástico ressecado, rajada de verde e branco.
Nessa época, os meninos que estudavam na Zona Rural, tinham que andar alguns quilômetros para irem à escola. Na região, tinham poucas escolas. Uma na fazenda até então “Saco de Dentro”, e uma das professoras chamava-se “Dôdô”. Outra escola próxima, ficava na comunidade de Boa Sorte. Entre as primeiras professoras: “Nega”( Etelvina) e Isná, filhas do Senhor Joberto; Zezinha filha do Senhor João “Verdura”. Essas, alfabetizaram muitos adolescentes –alguns já fora da idade-série, por terem que ajudar seus pais na “lida” da roça– mas que frequentavam às aulas depois do almoço, já na parte da tarde. Adolescentes, que hoje, já são pais e mães de família –com mais de quarenta, cinquenta anos– cujos filhos, também estudaram nessa mesma escola, os anos iniciais, até começar a vir o ônibus do transporte escolar –em meados dos anos 2000– buscá-los, para estudar na cidade de Curral de Dentro/MG. Além de dar aula, muitas vezes, ainda tinham que fazer a merenda, e perdiam de um a dois dias, para irem até à cidade de Águas Vermelhas/MG para receberem o pagamento do mês trabalhado.
Na capanga, além de no máximo um ou dois cadernos, os
inseparáveis estilingue ou bodoque –esse
último, levado a tira colo– que nos carreiros, da vinda e da volta, eram
utilizados para abater alguma pequena ave –muito mais por esporte dos moleques
“arteiros” – que também faziam arte no
pequeno caderno de desenho, cujos lápis eram apontados muitas vezes com
canivete. Capanga costurada à mão, pela mãe,
entre um intervalo da cozida de arroz, e o “atiçar” da lenha do fogão, pra
acelerar as labaredas –que “lambiam” o fundo das panelas de fundo encardido– para o almoço
sair ligeiro, a tempo dos pequenos almoçarem e –dar tempo da comida
“assentar” pra não embolar no estômago– e não lhes fazer mal, pelas corridas
“descarreiradas”, para encontrar com os outros colegas na próxima encruzilhada.
A mãe em casa, agradecendo a Deus –em frente ao oratório do quarto de
casal– por ter filhos saudáveis, que
depois de ajudar o pai da lida da roça, ainda irem à escola, para decorar a
tabuada e aprender o BÊ-A-BÁ, segurando o lápis
–não com tanta força, quanto se segurava o cabo da foice e da enxada, na
parte da manhã.
A partir do mês de julho e agosto, alguns novos utensílios,
eram trazidos no pequeno embornal. Um Realejo (uma pequena gaita de boca)
presente dado pelos pais, das viagens em Romaria a Bom Jesus da Lapa/BA. E pras
meninas, bonecas. Geralmente vinham desnudas, e as mães tinham que alinhavar
pedaços de tecidos, para confeccionar os vestidos, pras meninas vestirem suas
bonecas –já tendo suas primeiras lições de corte e costura.
Dias de Correria
No dia de fazer biscoitos, na casa de
Dona Maria Júlia, era uma correria
só. Tinha que ir para o rio arear as latas de assar biscoito, cujas latas, eram feitas das
latas de 20 litros de querosene, que
seu pai comprava em Taiobeiras, o que às vezes resultava em alguns cortes nos dedos, mas nem eram
percebidos, diante de tanta euforia e alegria.
A área em que ficava o forno, estava invadida de cheiro de “dia de labuta”: cheiro das folhas verdes das vassouras, assando, ao varrer as brasas do forno, cheiro de gordura de porco quente, escaldando goma, cheiro de açúcar queimado, caído na chapa quente do fogão, de mais uma coada de café quente, servido em xícaras de esmalte, aos que estavam assentados na c alçada de pedra. O entra-e-sai, de sua mãe, subindo e descendo a calçadinha da cozinha e outra da dispensa, trazendo manteiga de garrafa pra derreter ao fogo, um potinho de sementes de erva doce, e já pedindo pra buscar mais lenha, pra atiçar o fogo, e a chaleira esquentar a água pros menores banharem cedo, porque a água tinha que tá fervendo pra amassar os queijos logo mais à noitinha. O ritmo frenético e o andar rápido de sua mãe, apressava o alisar do branco-alvejado, das sandálias, e a superfície porosa –que mais parecia arroz branco, graúdo, espalhado em cima da mesa com forro branco–, já estava liso e gasto, mostrando o azul do chinelo de duas cores.
Um cachorrinho pé-duro, de olhos fixos nos biscoitos – que caiam, em forma de cascatas, das latas para dentro das peneiras, pra
esfriar – ficava atento, pra ver se
não sobrava algum, que torrou demais, além dos
que o menino já lhe dera, sentado ao seu lado, com uma mão cheia de biscoitos, – ainda meio quentes– e a outra, afagando a cabeça de seu
amiguinho de orelhas miúdas.
A gata marisca,
com seu filhote amarelo, ele mamando, e ela, cochilando, também à sombra do depósito,
já com a largura de dois passos,
visto que já se iniciava duas horas da tarde,
– e ainda assava- se
biscoitos. E se o forno ficasse meio lerdo, querendo esfriar, entra em cena o machado, ecoando pelo mangueiro,
o estalar do angico lascando, pra
chegar fogo no forno. Machado afiado,
amolado por seu Catão14
com seu grande fole, acelerando as brasas; deixava o machado velho, primeiro,
amarelo, depois vermelho
até azular, batendo na bigorna, pra afinar o corte. As
duas caras, o símbolo da sua marca
frisado no ferro fundido, já quase apagada, contando as milhares de toras lascadas por esta estimada ferramenta.
14 Homem alto, sempre com seu jaleco
de couro, para se
proteger das fagulhas
de ferro quente.
Pai de Cidão, Catãozinho e outros. Também morador da Rua Francisco Sá,
O sol, ia caindo devagar, no mesmo ritmo do abre e fecha dos olhos da gata, que olhava o seu dormitório, transformado em brasa viva, e teria que esperar uns dois dias, pra voltar a dormir dentro do seu quarto arredondado. Com o sol meio tímido, e já se escondendo atrás da capoeira, era hora de reabastecer as lamparinas, de juntá-las, e levar para a despensa para encher de querosene, depois de ter desfeito os desenhos de pucumãs que ficavam na ponta da puxada. Eram tantas, que passavam de meia dúzia: uma para cada quarto, uma pra cozinha, uma pra sala, uma pra varanda, outra pra ir no pé de erva cidreira, tirar folhas pra fazer o chá, pra sua mãe tomar os comprimidos. Tinha também, outra para acompanhar –uma hora sua mãe, outra hora, Laura e às vezes Melina– com o copo grande de alumínio, achocalhando e sacudindo, para bolear a massa do queijo até ficar redonda, e colocar na panela15 de salmoura, que ficava no quartinho dos queijos lá fora. Candeeiros esses, que depois de apagados, ainda ficavam escutando muitas histórias, que Laura, Melina e as meninas, ficavam contando em época de férias quando estavam todos lá na fazenda.
15 Quando estas panelas de barro ficavam gastas, pelo sal que as corroíam, ou rachavam, eram usadas para chocar ovos, e se os “muquins” (piolho de galinha) deixassem as galinhas inquietas, punha-se folhas de fumo, que eles sovertiam dali.
Na varanda não. Na varanda, quando chegava visitas,
acendia-se o “Aladim”16,
que tinha toda uma ciência pra se trocar a camisinha do lampião. Tinha que deixar queimar primeiro antes de se usar, e
se pegasse com a mão na tela, quando
acendesse após ela se queimar, derretia
o lugar onde entrara em contato com os dedos, então não era tarefa pra
criança. Entre várias funções
de um menino, que andava voando, pelas estradas
e carreiros, sempre acompanhado de algum cachorro, para levar recados, eram as mais variadas: Chamar Lero, para matar
mais um capado gordo. Além do grito
do infeliz, que agonizava em seu último
suspiro, ouvia-se um barulho, como se fosse um jato cruzando os céus, era o arrastar do feixe de
folhas secas, de coco da bahia, vindo sendo arrastado desde
a xácara, até o terreiro,
para pelar o porco –raspar
a pele preta– e arrancar
as unhas ainda quentes
–quinturinha de nada– pra quem tinha mãos grossas, calejadas pelo cabo roliço da foice e das enxadas
com cabo de mucambo. As mesmas folhas,
que quando ainda verdes, e ainda nas copas dos coqueirais, dançando
ao sabor dos ventos, servia de palco para pássaros-preto, sofrês, figas e cardeais, estalarem e ecoarem seus
16 Lampião à querosene
17Nome de uma determinada raça de porco muito comum nesta região.
Tinha também o dia de “Buscar mais ovos” nas casas vizinhas: Dona Atiza, dona Arlinda e Senhora de Lero, para inteirar os que sua mãe já tinha no prato de barro grande, que ficava no jirau da despensa, porque os biscoitos eram muitos, e ainda era preciso chamar Geraldo Vaqueiro pra varrer o forno dos biscoitos. Na hora de pôr ou retirar os vazilhões (baldes) de leite ou as bruacas da cangalha, tinha que “temar”18 e as suas alças eram presas na cangalha, e um menino era muito útil pra isso, porque sua altura era a mesma da jeguinha. Depois passava-se a cilha por cima para a carga não virar. Quando ele chegava na casa de Lero, seja pra chamá-lo pra matar um porco, ou um carneiro, ou buscar mais ovos, com “D. Senhora” pra inteirar os que sua mãe já tinha em casa, pra fazer os biscoitos: de seringa, de queijo, de goma passada, de coalhada, cozido e assado.
Esses “recados”, ainda que a distância não fosse longa, às vezes, o tempo cronológico, se tornava largo. Aquela procissão, de minúsculas, mas criaturinhas de muita força. Uma comitiva de formigas, em seu ritmo frenético, esbarrando seus faroizinhos, numa pista de mão dupla congestionada, carregando aquelas imensas folhas, que ao assoprar do vento, as tiravam da pista. Os milhares de pés, varrendo o chão de folhas secas, riscando um traçado sinuoso, que era acompanhado pelo curioso menino: tinha que se saber de onde, e qual árvore estavam sendo recortadas, e também para onde iriam, as folhas. O barulhinho das tesourinhas das operárias, recortando em ziguezague as folhas, era o mesmo, dos ponteiros do grande relógio da varanda, que não parava de pular, e nada do menino retornar com a resposta do recado que fora levar.
18 Segurar uma bruaca, enquanto a outra era suspendida, pra se “escanchar” na cangalha.
Quando era pra se chamar seus colegas de aventurança19,
pra pescar piabas no rio, ou fazer
vaquinha de barro, no barranco do rio. Cujos
companheiros, moravam pouco mais que uma pedrada de bodoque bom, distante de sua casa. Mas como o tempo
não se media pela distância, mas
muito também, pelas interações momentâneas com a natureza, não se calculava
o tempo gasto.
Ao chegar, tinha que primeiro subir na cerca de quatro paus, de uma madeira branca, –que parecia ser de caboclo ou jurema branca– depois de bater palmas, ficava esperando pelas investidas e latidos da cachorra baleia. Uma cachorra manchada de branco e amarelo, muito valente. Qualquer semelhança com outra baleia20, é mera coincidência. Essa não era tão sofrida quanto a outra, nem fora morta por um tiro de espingarda, mas era de uma valentia, que impunha respeito. Tinha também outro cachorro de nome não menos sugestivo “Presente”, talvez por ser pacato, levou esse nome. Sempre deitado no seu cantinho, ao pé do barranco do terreiro, nas cinzas ainda mornas, das palhas de feijão que foram queimadas pra se tirar “dicuada” pra fazer sabão.
19Daço e Jueli
20 cadela de Fabiano, ( livro Vidas Secas de Graciliano Ramos)
Ao amanhecer, o inquieto menino, mal tomava seu café da
manhã, e avidamente, descia correndo
a escada que dava para o quintal. Com seu estilingue pendurado no pescoço,
rumo à chácara. Passava correndo
entremeando por entre os pés de café, coco da Bahia, mexerica, lima, laranja branca,
manga-rosa, etc, plantados há anos, por
seu cuidadoso pai. As pequenas e adocicadas manga umbu, eram tantas,
que nem a meninada dava conta. Jogava-se
pros porcos, jogava-se pros bois e cavalos no
mangueiro, as apanhadeiras de café saiam
com as trouxas cheias, ainda assim, apodreciam embaixo da mangueira. Seus caroços serviam
de alimentos pras pacas que vinham na madrugada, pra serem esperadas
pelos caçadores assentados numa galha feita de banco de espera –a mesma galha
Era uma correria quase esvoaçada, quando era pra olhar se a arapuca armada na tardezinha do dia anterior, tinha pegado alguma juriti –que vinha em abundância na chácara, assim que o dia amanhecia–. As armadilhas eram amarradas com tiras feitas das cascas do jequitibá que ficava à beira do rio –que aqueles meninos o conheciam como borá– cujos frutos eram uns canudinhos serrilhados na borda, semelhante à boca de uma traíra, que os meninos pescadores, usavam para imitar o boque que o senhor Miguel usava para acender o seu cigarro de palha. Em uma dessas manhãs, teve uma grande surpresa. Ao chegar para olhar uma arapuca –que fora feita com muita maestria, com “maniva”21, pelo velho Olegário– se deparou com três juritis. Ficou de cócoras, sentado sem saber como retirá-las sem que escapassem. Quando a pescaria ia no sentido rio acima, e chegando ao fundo da casa grande, os meninos deixavam os anzóis e embrenhavam no carreiro vincado por entre os altos capins colonião, até chegar no quintal da misteriosa casa grande.
Uma casa com fama de mal-assombrada, com suas imponentes paredes de adobe erguidos a
“tição” (transversal), com seu alicerce
de pedra e largos e altos portais, –dizem até ter sido construída por escravos–
e enquanto os outros meninos
estavam em cima das mangueiras das saborosas mangas
sapatinhas, o menino arriscava a aproximar-se da casa, ia até o terreiro, mas as velhas janelas, pareciam grandes olhos cansados olhando
pra ele, e já vinha à tona, todas
aquelas histórias de assombração, aparição que rondava aquela velha casa, sempre contadas pelos mais velhos.
Uma simples lagartixa que desceu da parede e corria
por entre as folhas secas de café e do velho pé de jenipapo, já fazia aquele menino voltar correndo. Juntava-se aos outros, meio espantado com o coração
palpitando, mas não deixando transparecer, é claro. Afinal, quem ia ter medo
de uma simples lagartixa.
21 O caule da madeira do pé de mandioca.
22 Pequena ave de voo curto, comum em capoeiras
Uma minúscula capelinha, aos fundos, pra fazer a última
despedida aos que estavam partindo.
Também era usada pelos foliões de reis, que
entravam somente a metade, e a outra cantava do lado de fora, ou entrava os instrumentos, ou somente os
foliões; no dia seis de janeiro, dia
de se pagar promessa. Suas paredes rachadas, com uma portinha ressecada, –feita só pra passar gente pequena–, com rachaduras que servem de janela pras lagartixas espiarem
alguns dos moleques
medrosos se aproximarem. Sob o piso de ladrilho, ficava seus avós paternos, –Sebastião Pereira e Dona
Emília– que estão sepultados ali, aos pés do pequeno altar, em seu descanso eterno.
Casa Grande
Esta imponente e centenária moradia, uma senhora e anciã,
seguramente atravessando mais de um século de existência, e resistência,
construída por homens fortes, pra servir de moradia pra algum senhor de posses.
Casa cheia de histórias e misticismos, com suas grossas paredes de adobe,
erguidas à “tição” –tição é o nome dado a um tipo de assentamento de adobe.
Neste tipo de alvenaria o abobe é assentado de modo que seu comprimento passa a
ser a largura da parede– com seu alicerce e calçadas de pedra, obrigatoriamente
rodeadas e decoradas com os resistentes e singelos pés de boa-noite, com suas flores
brancas, vermelhas e até rosas, em forma de pequenas sombrinhas, tais quais às
sombrinhas das mulheres que frequentavam a casa em tardes de domingo. Seus
largos e altos portais, com imensas portas e janelas, que parecem grandes olhos
cansados, que fitavam o olhar daqueles meninos, que desafiassem a passar sozinhos,
defronte dela, e qualquer calango correndo por entre folhas secas, já era
motivo pra se assombrar e apertar o passo, mesmo em dia de sol claro e luminoso.
Apesar da aparência, que os anos imprime em sua face, hoje
abatida e descascada, esta sede, nos tempos áureos, tempos de muita fartura, foi cenário de muita gente. Seja por labuta, ou por visitas em
tardes de domingo. Também serviu como abrigo de muitos que por ali passavam, seja pra se aguardar as chuvas
de novembro amansarem, pra depois
seguir viagem, seja pra pousar e passar a noite, que aliás, era um prazer dos anfitriões, porque seria
noite de muita prosa, - desde o
nascer da lua por detrás da Serra do Anastácio, que vinha cortinando seu clarão, alvejando suas
paredes caiadas de branco-, e as prosas
iam até chegar a hora de dormir, que rigorosamente não podia se estender além das oito, oito e meia. –O
senhor pode vir banhar os pé pra “agasaiar” no quarto da varanda.
De tempos em tempos, uns trinta dias antes do acontecimento, corria-se a notícia que o padre viria, cuja data, já estava cuidadosamente circulada na folhinha pendurada na parede, próxima ao cabideiro de pendurar os chapéus. Cantinho onde sempre ficava o trio: um chapéu de sola de couro curtida, –já azulegado (acinzentado), pelas tantas chuvas, e pelos tantos sóis que cuidou, pra não esturricar os cabelos brancos do seu fiel e inseparável dono– o velho chicote de cabo trançado, com uma argola entremeada no final do cabo e um par de esporas, com suas rosetas de aço inox, de sete pontas. Aí a mula preta era arreada, atravessava lajedos, córregos, embrenhava-se por carreiros vincados nos imensos mangueiros de capim colonial, onde dava pra ver somente o velho chapéu surrado do portador, que ficava encarregado de espalhar a notícia, há tempo, pros preparativos que seriam arranjados e providenciados pro grande dia.
Aproveitando que o Padre vai vir, era dia dos solteiros estrear aquela calça de tergal azul marinho com a camisa listrada, e pros rapaz “mais ou menos” até mesmo estrear o terno risca de giz, com o chapéu “panamá”, com uma das abas ligeiramente arqueada mais que a outra de propósito, talvez pra que a pretensa mocinha, avistasse seu dente de ouro encravado num rote, cujo brilho reluzia como uma faísca, ofuscando o olhar da acanhada mocinha debaixo de sua sombrinha cor de rosa.
Aproveitando que o Padre vai vir, era dia de batizar aquele mancebo, já com seus treze anos, que já estava passando da data de batismo visto que padre era visita rara e ilustre. Tava ele, com uma pequena cicatriz de anteontem, quando o barbeiro, numa de suas tantas risadas, deixou escorregar ligeiramente, sua navalha, fazendo um pequeno arranhão. Por tradição, se o padrinho tivesse uma ou duas cabeças de gado era bom, pra resguardar o futuro do afilhado, caso seus pais fechassem os olhos antes do tempo.
Aproveitando que o Padre vai vir, um dos meninos a serem batizados, havia ganhado um sapato novo, e ficava de olho, um no sapato novo –pra não sujar da poeira que vinha do curral, já cheio de cavalos, com suas selas levemente afrouxadas, visto que a missa ia demorar– e outro olho na ladeira, onde o jipe verde, do padre, já vinha descendo, em primeira marcha, pra não correr o risco de o veículo desgovernar e bater na cancela, que ficava já na boca da ponte do rio da Gameleira.
E num piscar de olhos, o menino já estava na cancela, com suas tábuas largas, feitas de peroba, -aliás o oratório da sala onde a missa é celebrada, foi caprichosamente polido com óleo de peroba- era empurrada ladeira acima pra abrir, após o padre passar, o menino, por não aguentar o peso, na hora de fechar, soltou-a e a pesada cancela, angulada meio “derreada” de cima pra baixo, bate forte no mourão de aroeira, reverberando nas pedras, primeiro rio abaixo no sentido das águas e depois, ecoando um som de estalo, rio acima, por entre os ingazeiros e as imensas e frondosas gameleiras, que gentilmente cediam suas sombras pra refrescar os barrancos e as pedras, onde as moças assentavam pra lavar e arear as chinelas havaianas, pra chegarem lustrosas na missa, visto que vieram de longe assoprando as estradas empoeiradas, com suas chinelas, em um ritmo frenético, pra se chegar antes do meio-dia, hora que inicia a missa. E essa sombra, é abençoada, visto que uma das senhoras, tinha uma criança de colo, e vinha num malabarismo, alternando entre a sombrinha, e o lado em que escanchava a criança. A mãe, com os músculos dos braços já doloridos, visto que ainda ontem, havia pilado dois pilões de arroz vermelho, e depois de tirado a casca, ainda tinha que pilar novamente com folhas de goiaba, pra se remover o vermelho indesejado do arroz-vermelho, então era labuta puxada e somente pra braços fortes.
Aproveitando que o Padre vai vir, era tempo de costurar aqueles tecidos comprados do mascate, que passara há seis meses e retornaria somente após a colheita dos mantimentos, pra se receber e trazer mais novidades. Embaixo do grande pé de mulungu, formava-se uma grande alegoria com uma aquarela de matizes das mais variadas cores. As moças, senhoras casadas, –e até mesmo algumas resistentes vovós– com suas sombrinhas estampadas, vestidos, saias e blusas, ora rosa, ora quadriculada. Em sua grande maioria, os tecidos eram estampados com motivos florais, cuja fragrância das águas de cheiro das moças, permeava do terreiro até à sala, com um misto de café, visto que vinha da cozinha, o cheiro de mais de uma “esculateira” de café, mesmo porque o padre não começava a missa antes do seu santo café.
Aproveitando que o Padre vai vir, era dia de oferecer aquela aguardente especial, guardada há meses em tonel de madeira, pras mulheres não. Pras mulheres, se servia um vinho, mas pouco, pra não aumentar as risadas e atrapalhar a missa. Aproveitando que o Padre vai vir, o vizinho ficou sabendo que o compadre iria casar sua filha mais velha, e ofereceu um capado gordo, pra aumentar a farofa do jantar do casório. O vaqueiro da fazenda que ficava há duas léguas, visto que era dia de festa, prevendo tomar uma, duas, e não mais que três branquinhas, e depois de muitas risadas, iria chegar tarde na casa de seu patrão. Por isso, já deixou as vacas no mangueiro próximo ao curral, pra ficar fácil apartar os bezerros na segunda-feira às cinco da manhã.
E nessa de aproveitar, aproveitou-se até as vísceras dos capados gordos que se foram nesse dia, pra fazer sabão, que depois serviria pra lavar o vestido da noiva que ficou empoeirado, porque o baile foi no terreiro, e a terra ficou solta por causa dos tantos saltos de tantas botas de tantos vaqueiros presentes na festa. Êita padre que trouxe alegria “prês” povo. santo e abençoado padre.
Quem proveitô, proveitô, quem num proveitô, agora somente quando o padre vier de novo... quando? só Deus sabe, porque a diocese de Araçuaí é região muito comprida, e o jipe num passa dos 50 km por hora, além disso, o Padre costuma ficar de dois a três dias pra descansar da viagem, e comer mais um franguinho.
Tem problema não. É o tempo que o mascate passa de novo, e o povo fica prevenido, cheio de cores e perfumes, pra aproveitar o dia de festa quando o Padre vier novamente.
Tempos de Chuva
Em épocas de chuva, de novembro a janeiro, era um tempo mágico. Quando o vento começava a varrer as folhas secas caídas debaixo do velho pé de Ficus, rumo à calçada de cimento queimado do depósito de fora, e da velha garagem, era o prenúncio da chuva. A serra do Anastácio, ficava coberta de um véu branco que vinha descendo, estendido e cobrindo as paineiras e os angicos do boqueirão, até chegar no mangueiro. Mas antes vinha o vento balançando os corajosos bem te vis e tesoureiros que estavam pousados nas altas galhas dos eucaliptos, já de olho nalguma mariposa. O chão colorido de vermelho, das flores que caíam embaixo do pé do flamboaiã. Vento que vinha penteando as grandes moitas de capim colonião, jogando-as pra lá e pra cá, logo já dava pra sentir o inesquecível cheirinho bom de terra molhada, juntamente com a orquestra dos pingos d’água batendo nas telhas. Cada uma com seu tom, e os respingos da chuva que passava por entre elas, refrescava o rosto do menino que já tinha apanhado as peneiras com erva doce, lá do jirau do terreiro da cozinha, já tinha tocado a galinha de pintos que estava debaixo do quarador de roupas, senão os pintos seriam levados pela enxurrada que descia veloz. Passava pelo curral, derramando debaixo do pé de goiaba e desembocando no mangueiro, passando por debaixo da cerca de arame farpado, onde as garrichas faziam seus ninhos nos buracos dos mourões da porteira, entrelaçados pelos pés de cabaça, que vinham rastejando e esticando suas ramas desde o curral. Suas ramas de folhas amargas, seguiam pelo arame até o carreiro, onde as cabaças cresciam meio minguadas, de tanto sacolejar pelo vai e vem das vacas que passavam rente à cerca, para beberem água no rio.
Nos meses de novembro a março, quase toda a cerca, ficava coberta por uma grande cortina verde, decorada com balõezinhos amarelos e alaranjados. Eram os frutos de melão de São Caetano, com suas sementinhas muito apreciadas, mas os meninos a chamavam de “Sacoitana”. Não demorava muito, sua mãe já vinha pedindo uma toalha para cobrir o espelho –senão podia puxar o relâmpago– uma bacia e o jarro de esmalte branco, de banhar rosto, e outras vasilhas, para aparar as goteiras da sala, e do quarto, onde ficava o pequeno oratório com a imagem de Nossa Senhora e outros santos, – para trazer proteção a esse lar.
Quando a chuva cessava e ficava ainda uma neblina fina, o sol despontava ainda meio tímido, colorindo o céu com uma imensa curva colorida de sete cores, sempre com uma das pontas finalizando no rio. A sabedoria popular dizia: que o arco-íris estava bebendo água, e quem se aproximasse, dele seria engolido, e o menino seria cuspido depois, mas como mulher. Ouvia-se o canto do sabiá, –que, aliás, começava a cantar desde a primavera– anunciando o tempo de fartura; dos pássaros-pretos alimentando seus filhos na copa dos pés de coco da Bahia, com as lagartas encontradas em abundância, principalmente no milharal.
Da cerca do terreiro, dava pra avistar a cachoeira que se formava na serra, antes era um fio brilhante que desce serra abaixo resplandecendo suas águas límpidas, agora transformada em uma grande e larga corredeira, com suas águas amarelas. Vista assim de longe, dava uns dois dedos de largura, por um palmo de altura, mas de perto, eram águas que desciam com uma força e velocidade de arrancar enormes pedras, rolá-las rio abaixo. Era a enchente, que não demorava muito, já chegava no rio no fundo da casa, alargando e redesenhando o rio, retorcendo o capim e as árvores à sua beira. Batendo nas pedras e na velha represa que outrora fora quebrada pela força dessas mesmas águas.
O Sr. Nem Pereira, foi quem ergueu essa obra. Sem muita tecnologia, mas com muita coragem e espírito empreendedor, não medindo esforços em construí-la, e talvez também, não tinha como se medir a forças das águas, visto que essa imponente construção, durou pouco mais que uma década e meia. O início, não se sabe, mas o verde do limo (lodo) que banha suas pedras, conta sua história. Uma construção que precisou do despertar de muitas madrugadas –visto que foram muitas mãos, muitas viagens de carro pra trazer de longe o cimento, e muitas viagens de carro-de-boi carreando as centenas ou até milhares de pedras– mas sua construção, foi finalizada em 19/10/1960. Com pedras encaixadas com cimento, encravada no barranco, com uma enorme aroeira atravessada, formando uma espinha dorsal, com outras madeiras perfiladas em pé, formando uma estrutura de emaranhado de pedras e madeiras.
Apesar de estar sabiamente apoiada e escorada numa grande pedra, talvez jamais seria empurrada, mas as águas revoltas, rodeando e lavando a represa, “lambendo” com força o barranco que foi encharcando, e de tanto que empurrava, logo deu-se um estrondo, e suas pedras foram descarrilhando em um efeito dominó assim como foram empilhadas, vindo então abaixo, ruindo um sonho, e um símbolo de prosperidade, que por um período, também serviu como caminho mais rápido pra se atravessar de um lado a outro do vale da gameleira, com as mães agarradas nas mãos dos pequenos “não olhe pra baixo não” porque o balançar das águas e a altura de cinco metros que ficava o barranco a ser alcançado do outro lado, dava até vertigem, tanto é, que se o “camarada” tivesse tomado “uma ou duas pra jantar”, –era “mió” que dormisse aqui e amanhã cê vai. Ao atravessar o rio, do outro lado, tinha uma casa que frequentemente, seus moradores usavam essa represa como caminho. O morador chamava-se “Vei” um senhor simples, trabalhador com seus filhos: Bel, Alírio, Melinha e Eva, cuja esposa dona “Viturina24” quase que diariamente, passava por ela, pra vir cumprir com alguns afazeres na casa de Dona Maria Júlia.
O rio defez o lago, mas a história, –apesar das pedras enverdecidas, da velha represa– ainda atravessa tempo. A enchente produzia um som, que dava pra ouvir debruçado no batente da alta janela da cozinha. Era hora de correr para a beira do barranco e ficar olhando, mas com cuidado, porque o retorcer das águas dava até vertigem. A água espumante da enchente, já chegava ao pé do barranco, fazendo redemoinhos, como se fosse um liquidificador misturando frutas: piabanhas25, bacuparis, ingás, caroços de manga, e de jambo; este último, vindo da chácara do Sr. João Veríssimo, que ficava na margem esquerda do rio Gameleira descendo da Serra do Anastácio. Tinha uma chácara, com uma variedade de frutas. A exemplo das fazendas de Dona Santa, que tinha o até então, desconhecido marmelo –fruta rara.
24 Esta senhora veio a falecer em consequência de queimaduras. Não se soube ao certo, o que ocasionou o incêndio.
25 Frutinha roxa, de pele aveludada do tamanho de um grão de café maduro.
Fazenda que tempos depois fora adquirida por um dos genros do Senhor João Veríssimo. O Senhor Lourival –mais popularmente conhecido por “Lô”– que sempre era visto galopando pelas estradas da Gameleira, com seu inseparável chapéu de couro. Era frequentador assíduo da casa do Senhor Nem Pereira. Seus filhos estudavam em Taiobeiras, e quase toda sexta-feira, ele chegava lá já no cair da noite, com uma ou duas bruacas cheia de frutas e outros “mantimentos” para serem levados pra sua família que ficava aos cuidados de sua esposa Dona Milza. As conversas entre o senhor Lô e o senhor Nem Pereira, eram sempre demoradas; entre os assuntos de fazendeiros, gostava também de contar algumas “anedotas", era muito bem humorado. Quando os pequenos da casa saíam pra cumprimentá-lo, sempre ele trazia consigo um “embornal” com carambola, banana maçã e outras frutas, que Gentilmente eram oferecidas por ele.
Logo abaixo, fica a extrema da fazenda de Dona Arlinda, uma casa grande, que tinha uma “casa da roda” (casa de farinha). Depois de muitos anos morando lá, se mudou para Barreiros. Por uns tempos, "Pulú" e sua família, moraram nessa casa. Homem sisudo, barbudo sempre de chapéu, mas também era muito bem humorado –“pros” que ele conhecia– conseguia até tirar um sorriso daquele rosto escondido, atrás de sua barba escura. Veio a morar também na Casa Grande que tinha fama de casa mal assombrada, mas era só superstições que alimentava o imaginário popular principalmente dos pequenos –que apressavam o passo– quando passavam em frente dela.
Uma outra fazenda que tinha uma novidade, um Monjolo, a qual pertencia ao Sr. Antônio Cândido, –o qual era chamado popularmente de “Tone Câindo”– ambas localizadas numa região por nome de “Vereda do Mato”. Toda semana passava uma caminhonete (C10 amarela) na estrada, já sabíamos que era o Sr. “Tone Câindo”, vindo da “Vereda do Mato”, indo para o Campestre; sempre com seu inseparável motorista e companheiro, o seu filho Edilson. Na Fazenda Vereda do Mato, a sede é um casarão grande, com frondosos pés de fícus à beira do Curral de Dentro/MG; com assoalho de madeira e porão. Tinha um monjolo –um grande pilão, com sua mão-de-pilão, movidos pela força da água que descia veloz da serra– fazia o trabalho de umas cinco "pisadeiras" de braços fortes. Com o tempo, esse instrumento foi desativado, visto que fora adquirida uma máquina de limpar café. Nessa fazenda entre outras pessoas, moravam os irmãos: “Brasão” e “Tiaozão”. Eram dois negros fortes, e impunham muito respeito, quando chegavam em uma festa, montados em suas mulas.
A chuva produzia cheiros de essências naturais diversas: Cheiro de mato molhado, cheiro de capim seco, cheiro de cinza, do capim que fora queimado em agosto, deixando as barrancas à beira do rio, coberto por um grande lençol preto, até que as primeiras chuvas as cobrissem novamente de verde, de um verde escuro e brilhante, dos viçosos capim colonial; cheiro de cachorro molhado, do cachorrinho a roçar em suas pernas, também a admirar o desdobrar da água barrenta da enchente, mas também, arisco e ligeiro, de olho nalgum calango ou preá, fugindo da invasão das águas.
A água que aumentava, já lavava o barranco do rio, com um pé de manga espada à sua Beira. O barranco tornava-se um mirante, pra se ver a enchente, mas se a euforia fosse muita, os incômodos moradores, em sua grande casa numa galha acima, já vinham dar boas vindas. Era uma morada de arapuás, que já vinha zumbindo enroscando, dentro dos cabelos, que era difícil de se retirar, igual aos miscos26 que se enroscavam nos cabelos crespos das “pisadeiras de café” enfeitados "pro" dia de missa.
No dia seguinte, com o sol quente na parte da tarde, era hora de catar as tanajuras, enchia-se vidros de leite de magnésio ou latas de óleo vazios, e jogava-as, no cercado das galinhas, era um alvoroço só. No lajedo que ficava um pouco acima em frente à casa, tinha um sofá esculpido naturalmente na rocha, e sentado nele via-se umas poças d’água que se formaram com a chuva, cheias de uns exímios bailarinos se requebrando, um falava ingenuamente pro outro, “é cabeça de prego”, mas naquele tempo não tinha o perigo do Aedes aegypt, então eram larvas de um pernilongo qualquer ou mosquito, que não iria causar maiores danos. Devido os frequentes dias chuvosos, as águas emergiam cristalinas ao pé do lajedo, e as pedras ficavam cobertas por um tipo de musgo folhado, o qual chamavam de pés de periquito.
Personagens Distintos
Esse pequeno mundo, era composto e visitado por pessoas ilustres e as mais variadas figuras emblemáticas. Tinha a senhora Florinda “Filurinda” –uma senhora alta, de lenço cobrindo os cabelos brancos– que carregava sempre consigo, o potinho de rapé com cheiro de cravo.
O senhor Miguel com seu
andar já meio alquebrado e de passos largos,
com seu inseparável facão corneta, dentro de uma bainha já muito “surrada”. O velho boque: feito da
ponta do chifre de vaca, preenchido com
algodão queimado, com um pedaço velho de lima de amolar enxada, amarrado na borda. Batia-se um cristal na lima e
logo o algodão estava em brasas,
depois de acender o cigarro, fechava-se e ele apagava.
O senhor Major, com sua voz meio rouca, que sempre usava o mesmo jargão quando chegava, antes de apeá de sua mula perguntava: “seu pai taí caburé” uma maneira diminuta, mas alegre de se expressar, e de se dirigir
aos pequenos.
Um outro senhor, que não se sabia o nome ao certo, mas o chamavam de “Dô vei”, com seus pés de solado grosso e rígido, que devido às infinitas viagens, pra levar e trazer recados, os fizeram resistentes, que os eventuais espinhos encontrados pelo caminho, não faziam nem cócegas. Um senhor de poucas palavras, hum!!!... hum!!!... sempre confirmando o que lhe era dito, com seu paletó de bolsos largos, que após tomar o café bem quente, punha os biscoitos no bolso pra comer na estrada.
O senhor Lerão, que vinha entregar as bruacas novas, de couro de gado nelore, encomendadas pelo senhor Nem Pereira, seu pai, para guardar mantimentos e para transporte de cargas. Tiadorão com sua mula ferrada com uma sela toda cravejada, forrada com um pelo de carneiro e estribos de metal.
Tinha o quarteto dos irmãos27, que aos sábados
saíam para caçar, e quando era dia do
caçador, um quarto do veado, sempre era reservado para o estimado “cumpadi
Nem”. De tempos em tempos, chegava o velho
Ricardo, que vinha da “mata” trazendo as cartas de uma Tia chamada, Dominga que morava “na mata” em Ibirapuã. Era uma espécie de mensageiro, de voz grave, que sempre tinha muitos
causos pra contar, nas longas noites que passava, na casa do Sr. Nem Pereira.
O velho “Dedê”, um senhor de bengala, sessentão, com sua inseparável capanga de couro curtido –que no imaginário infantil, seria um homem que “capava menino”–. Quando ele chegava, corria e fechava-se o portão e ficavam espiando pela fresta, o velho fazer seu cigarro de palha.
Dona Otília das bonecas costuradas em retalhos de pano de
algodão, uma negra autêntica de
muitas lutas. Era a matriarca de uma grande família, com suas casas de enchimento, com os fogões
cuidadosamente embarreados com uma espécie
de argila branca,
fragmentada com pequenos pedaços de malacacheta que reluziam à noite. Morava em lugar denominado de pedra
grande, onde tinha uma grande pedra
na beira do rio, onde os moleques
da redondeza, iam pra banhar e chupar ingá e bacupari. Uma senhora muito trabalhadeira, que em épocas da colheita
do café, ela e todas as mulheres de sua família, iam para a casa
da gameleira para colher café, pilar
arroz e muitos outros afazeres, e só retornavam com o cair do sol. Trazia no seu semblante, além das marcas deixadas pelo tempo, um sorriso farto com seus dentes largos e de um branco
esmaltado, tal qual eram as teclas da sanfona “armonca" (safona)
de “Zé Gome”.
Personagens Inesquecíveis
Ti Zé, “Zé Gome”, conhecido também por “Zelão”, era rapaz solteiro, e já bem "maduro". De cara meio fechada, mas também de riso fácil. Sempre assentado ao lado do esteio de aroeira, ao pé do fogão da casa grande de sua irmã –Dona Maria Júlia– na fazenda gameleira. Não guardava desaforo, e por qualquer “contrariação”, abraçava sua sanfona, subia a ladeira da gameleira, dedilhando algumas notas musicais desconexas, mas eram melodias cheias das memórias vividas por ele. Cantiga de uma despedida, mas de um não demorado retorno, à casa de sua irmã, que sempre era sempre bem-vindo, até nova contrariação.
Em sua mocidade, “Zé Gome”, fora vaqueiro e amansador de
burro bravo, mas com o chegar da idade, gostava mesmo, era do sossego. Do
aconchego dum pé de fogão, regado à várias xícaras de café quente e forte. E
quando lhe era pedido pra dar sua alta e grave "risada", fazia a
prole de pintos –que ciscavam alegremente no mangueiro ao lado da casa– se
esconderem debaixo das asas de sua mãe "pedrês" de quadril saliente.
Até o cachorro –meio preguiçoso, pela “quentura” do sol da tarde– dormindo na
calçada, suspendia a cabeça espantado, achando que fosse um trovão, que ecoava
vale abaixo, cortado pelo Rio da Gameleira. Mas também gostava duma dose
“crescida” de umburana ou quina, num copo americano, que após descer garganta
abaixo, já de orelhas vermelhas, com movimentos alternados –batendo à galope,
uma mão após a outra no formato de concha, na parte de trás do antebraço e
cantava:
Venha cá “papagai”
Sai da “gaia” do pau
Com seu bico de cera
É de toda madeira
Com seu bico de prata
Seus ‘carim” que me mata
Com seu bico de ouro
Tá com Zé Gome no namoro!
Fui descendo “ri” abaixo
Numa canoa furada
Ariscando minha vida
“modo” uma coisinha de nada [...]
Geraldo Vaqueiro, que de vez em quando, era chamado para varrer o forno de assar biscoitos. O qual a princípio, relutava em vir, era meio “enfucado” porque na verdade, seu ofício era ser vaqueiro, e gostava mesmo era de campear o gado, mas depois despontava na ladeira, já com as vassouras no ombro, para mais uma tarde de assada de biscoitos.
Todas as tardes, um aboio ecoava entre os boqueirões do mangueirão, era o vaqueiro ajuntando o gado para tirar o leite no dia seguinte. Se via ao longe, o cordão branco que se formava das vacas enfileiradas nos carreiros entalhados por entre as pedras pelas tantas idas e vindas das rezes. As cinco horas da manhã, o vaqueiro já estava dentro do curral, com o caneco na mão, pra tirar o leite. Em épocas de vacinar o gado, os curraleiros –um pequeno pássaro branco com sua casaca preta, deixando à mostra sei peito de plumagem branca– procurando alimentos entre o esterco. Assentada na cumeeira da “seringa” do curral, só observando o seu espaço, que ficava todo alvejado, pelas dezenas de vacas que iam entrando perfiladas para serem vacinadas. Era a alegria da molecada, que ficavam em cima da cerca do curral, de olho nas tampinhas dos frascos, para fazer as rodas para os seus carrinhos. E os blocos de gelo que conservavam a vacina, se transformavam em picolés.
Além do pai e sua mãe, que nunca mediram esforços e custos pra lhe criar e educar, ensinando os verdadeiros valores da vida, num mundo de simplicidade e desprendido das coisas materiais, rodeado de pessoas íntegras e honestas. Teve duas pessoas de prestimosa e fundamental importância em sua vida, e de todos da família:
Laura, uma espécie de irmã mais velha, que em todas as férias, já os esperava. Gostava de juntar retalhos coloridos e ia confeccionando uma colcha de retalhos.
Além de fazer um objeto de decoração, feito de triângulos de quatro lados, recortados de papel de caixa de sapato, forrado com retalhos multicoloridos pra se fazer o giramundo (estrela da felicidade), uma arte muito bonita, feita com muito esmero. Todas as noites, quando todos iam dormir, ela, Melina e Lucília, ficavam conversando, eram tantos os assuntos, que o menino acabava adormecendo e não acompanhava o desfecho das histórias. O quarto de Laura, onde todas as moças dormiam, ficava lotado –feito quarto de pensão– em épocas de férias escolares. Vinham as cinco filhas mulheres, além de Melina, e de vez em quando, alguma amiga de ginásio das meninas, pra dormirem tudo nesse quarto.
Quando acabava a alegria das férias, ficava a imagem de Laura abandando as mãos, debruçada nos gomos de madeira serrada da cerca do terreiro, e o menino segurando a cancela aberta, com um cachorro chamado Feroz, roçando em sua perna, como que dissesse, que também ficaria com saudades daquele menino, que estava com um nó na garganta e os olhos inundados, dum líquido brilhante, que refletia a imagem da velha casa e a pick-up 1977 (placa LT 2765), que vinha vindo subindo a ladeira. Em cada período de férias, quase sempre tinha um novo amigo anfitrião. Foram muitos: Lôbo, Dog, Feroz esse último, de feroz, só tinha o nome, visto que era um cão muito dócil. Numa dessas, quando cheguei, tive a notícia que ele havia falecido. Perguntei onde fora jogado, e fui onde se encontrava sua carcaça. Fiquei um bom tempo parado ao lado de sua ossada, que ainda dava pra ver a cabeça relembrando das muitas vezes em que ele seguia nos acompanhando nos carreiros, ora à frente, ora atrás, sempre balançando seu rabo em forma dum aceno carinhoso.
A pick-up Ford 1977, fiel companheira de seu pai, de vez em quando, cismava de não funcionar. Então, atrelava-se os bois puxando-a ladeira acima. Se ainda assim continuasse a teimar, tinha que vir de Taiobeiras, os mecânicos da oficina do Sr. Bilo, para dar um jeito e voltar a funcionar, para seguir a sua jornada de todas as quartas e sábados para a cidade de Taiobeiras, levando entre tantas coisas, os preciosos queijos. A cidade de Taiobeiras tinha menos de uma dezena de oficinas, além do Sr. Bilo tinha: Renato Volponi na Av. São João do Paraíso cujos mecânicos eram, Luizão28 e Orlando29, e a oficina de Coca Cola, não do refrigerante, mas do Sr. Coca Cola.
Melina uma negra muito alegre e risonha, de um coração puro, que abdicou de muitas coisas, dedicando sua vida pra nos criar, foi uma segunda mãe para todos eles. Dos inesquecíveis bolinhos de chuva, dos deliciosos bolos quentes com café, dos bolinhos de mandioca pra vender no portão do colégio, das largas risadas, de seu inseparável papagaio, que como tantas outras pessoas, a chamavam carinhosamente de “mel”.
29 Foi colega de classe do menino de dez anos na quarta série.
O seu passatempo preferido era assistir às novelas com sua amiga “Dona Lira” e cuidar de suas plantas: crotes, graxas, samambaias, e sempre trazendo outras mudas de plantas das suas visitas na casa de Izabel e outras amigas. Além de sempre nos conduzir à igreja, tinha também os passeios de domingo. Um lugar chamado grama, após a igrejinha adentrava-se por uma estrada de terra até chegar ao Santos Cruzeiros. Passava-se por uma cancela que ficava no início da ladeira que dava pra essa casinha. Dona Maria e o Sr. Abílio, juntamente com suas filhas Dilma, Estela e os outros... que já nos aguardavam. Eram muito hospitaleiros, enquanto os pequenos se aventuravam pescar algumas piabas e caris –um pequeno peixinho que fica sempre nos fundos do rio junto à areia– com um lata cheia de farinha, o Senhor Abílio já havia providenciado uma “garapa” (Caldo de cana, extraído de um pequeno engenho manual) pra todos os visitantes. E na volta tinha que apertar o passo, porque a caminhada era longa, eram muitos pequizeiros e pés de articum, que tínhamos que deixar pra trás à beira da estrada, até chegar novamente na Igrejinha. Tinha também os passeios na fazenda onde morava o Senhor Adão e Dona Izabel. Eles moravam no sítio do Senhor Uilton. O Sítio mestre –o mesmo sítio do passeio com a professora do “Jardim de Infância” (pré-escolar)– ficava na estrada de terra vermelha que liga Taiobeiras à São João do Paraíso logo após a barragem de baixo. E tinha também os passeios na barragem de cima, onde era levada uma garrafa de suco de groselha, porque talvez não tivesse nenhum “morador” por perto e a viagem era de uns três a quatro quilômetros, visto que a cidade acabava na Avenida do Contorno paralela à Rua Santa Luzia.
O último abraço, foi
em abril de 1995, esse menino, agora com vinte e sete anos, saindo com uma
pequena bolsa de mão, com uma toalha,
uma escova de dente e algumas poucas peças de roupa, indo pra São Paulo, ela na calçada da casa da Rua dos Pereiras,
com os olhos cheios de lágrimas, e aquele menino de outrora,
dobrando a esquina da praça da
Matriz dando o último adeus. E exatamente um
mês após, ela veio a falecer. E esse rapaz, em um dia frio do mês de maio (31/05/1995), num orelhão em Guarulhos/SP, tentando
expressar algumas poucas palavras com seu irmão Ronildo que lhe dera a notícia, mas tanto ele como seu
irmão, não conseguiam falar, estavam muito comovidos, se sentia meio culpado. Foi exatamente um mês após a sua partida, com ela
chorando, e ele dizendo para ela que
logo, logo, voltaria. Voltou de férias após dois anos, mas ela já havia partido
pro andar de cima.
Banho Quente
As brincadeiras de rua, eram as mais
variadas: Jogar bola, entre os vários
“campinhos” improvisados, tinha um, nos fundos da Escola Estadual. Pra se chegar, pulava-se o muro do quintal do
Padre, com seu abacateiro sempre oferecendo gratuitamente, seus frutos caídos à sua sombra, e logo alcançava o muro da escola, - que de
tanto os moleques
pular, ia abrindo
um portão natural
em forma de V- e tinha ainda, que ficar de olho, se o
"Sr. Tintino34 não estava vindo.
As bolas “dente de leite” quase sempre eram compradas por Iris35, ainda que não fosse um
exímio jogador, esta condição, lhe outorgava
o direito de ser o capitão do time, escolhia os melhores, entre todos “atletas”36 que
ficariam no seu time. Uns calçados com os Ki
chute, outros com conga azul, e outros descalços. As Bolas às vezes furavam ao primeiro chute, que
passando por sobre o muro do quintal
do Sr. “Tezinho”37. Voltavam todos cabisbaixos, pela alegria interrompida por um caco de vidro, entre os milhares que eram fincados
em pé, como lâminas pontiagudas, sobre o muro, como obstáculo contra visitas indesejáveis, e também para que as mangas,
Quando estava chovendo, o cavalete do hidrômetro da garagem de D. Maria, servia de trave de gol, pra uma partida meio tumultuada, mas não podia passar aquela tarde de sábado, sem uma partida de futebol. Tinha também as partidas de bolinha de gude (china ou buíca), queimada, e tinha as noturnas: salvo, rouba bandeira, pique lata, que iam das 19:00 até no máximo às 20:30 horas.
35 Filho de Dona Maria e
do Sr. Miro
36 Paulo e Carlim (irmãos de Iris) Aécio, Dão, Ivo, Charles, Altemar, Deí (irmão de Si) Silvim de Augusta, entre outros
37 Era um grande empreendedor, dono do 1º prédio construído na cidade já na década de 1970.
Numa quase fatídica, noite dessas, a brincadeira fora
interrompida mais cedo. O menino, ao
apoiar a mão para subir nas ruinas de um muro, da casa velha que ficava nos fundos da Igreja Matriz, foi picado
por um escorpião. E a cada pulo, teria que segurar um de seus braços suspenso, porque uma intensa dor
percorria todo seu braço, fazendo seu coração “palpitar”, obrigando-o a ir pra casa, cuja respiração ofegante atrapalhara um primo
de seu pai,38 a ler um livro para
Melina ouvir. Ao perceberem o grave estado do menino, o primo do seu pai, colocou-o no ombro e levou
ao hospital Santo Antônio no qual não
tinha o soro antiofídico. - Foi a segunda vez que tivera em um hospital -. Tinha que remover pra cidade de Salinas, mas não tinha
ambulância disponível pra levá-lo.
38 Dilson era um sobrinho
de seu pai que passara
uns tempos com eles.
Após meia hora, a rural do Sr. Délcio parou em frente do nº
419 da Rua Francisco Sá, pra pegar as
roupas do menino, porque o caso era grave e não poderia
esperar. Os seus coleguinhas penduraram apreensivos, na porta do carro, curiosos pra saber o estado do menino.
O quadro não era bom não, estava febril e meio apagado. E numa noite chuvosa, a rural segue, com o
motorista, Melina –sua segunda mãe– e
o menino, numa estrada de chão, no sentido à Fruta de Leite, que após
chegar em Entroncamento de Salinas segue à esquerda
até seu destino.
Após medicado, já no máximo no segundo dia, se lembra de Melina lhe dando um banho, com uma água muito quente. Não dava pra entender como um “chuveirinho daqueles”, fervia a água mais rápido que a "esculateira" de cobre de sua mãe, em formato de saia godê, num fogão de trempe de ferro fundido, de três bocas, sobre fogo acelerado, de lenha de jurema branca, –pra apressar o café, nas madrugadas de folia de Reis– ou em dias de viagem, antes do sol piscar.
Seguramente, fosse seu primeiro banho de chuveiro elétrico, e deveria estar na posição inverno, isso explicaria o estranhamento, de uma água tão quente, bem diferente da água morna, dos chuveiros de balde, onde se podia fazer a mistura da água, ao gosto do frio de cada um. Mas a alegria em saber que já iria embora pra casa aquele dia, a temperatura da água se tornava amena, diante da euforia e a alegria pra ir pra casa. O retorno, foi em um fusca branco39, foi quem os trouxeram de volta à Taiobeiras, que trouxe não só o paciente, e sua já aliviada, cuidadora, mas também a alegria e alivio à todos que o aguardavam ansiosos por sua volta.
Essa fora a segunda vez que ele visitara um hospital. Sendo que a primeira, foi quando ao chutar uma bola nas valas da até então, Rua Franciso Sá40, logo nas primeiras semanas na nova cidade em que ele veio morar, ainda cursando o “Jardim de Infância” –Pré-escolar, em um local improvisado na Av. da Liberdade numa sala de bancos coletivos, com sua professora, e depois vizinha, D. Maria José– o seu dedão do pé direito, não coube mais dentro do chinelo, visto que havia desprendido um pedaço de pele e precisaria o médico dar uma olhada. Como a cidade ainda não tinha hospital. Os casos de quedas de bicicletas, quedas de pés de manga, enfim, quedas de meninos levados, eram atendidos no posto de saúde que ficava numa praça próximo ao mercado municipal. O menino chegou trêmulo, e ficou mais ainda, ao sentir o cheiro de pronto-socorro: cheiro de álcool, de mercúrio, de merthiolate e vendo todos aqueles instrumentos hospitalares, aumentando ainda mais, o medo de injeção. Mas o ferimento tão grave, não passava de uma sola de dedão fora do lugar.
O enfermeiro Zé Lauro, foi quem lhe fez o primeiro curativo, porque até então, os arranhões causados pelos espinhos em suas aventuras na natureza, não carecia de curativo. O lado bom, é que talvez não precisasse ir à aula ao menos três dias. Mas no outro dia lá estava ele, mancando no trajeto da escola, com um pé no Ki chute e outro de chinelo, com o dedão com a aparência de um algodão doce.
39 Um fusca do Sr. Vagna Brito, com seu para-brisa traseiro, de duas lentes, possivelmente da década de 1960.
40 Atual Rua dos Pereiras.
Camarote Vip
No quintal da casa da Rua Francisco Sá, em tempos que não se conhecia água tratada, com cloro da Copasa, usava-se água de cisterna. Puxada com uma lata reaproveitada de querosene, amarrada com uma corda, enrolada num sarilho, o qual tinha que por umas borrachas preso às forquilhas, pra que o mesmo não “escapolisse”. A borracha se conseguia com o sapateiro da Rua Stª Rita de Cássia o Sr. “Carlura”41. Ou então, ir na sapataria do Sr. Wilson na Av. Santos Dumont, pra trazer tais pedaços de pneu. A cisterna de tão funda, que as latas de tanto bater no barranco, pra se chegar até a água´, frequentemente tinha que se tampar os buracos, com os pingos do plástico em chamas. O preferido era da embalagem das sandálias, que tinha um plástico especial, muito fino.
Esta rua, tinha famílias ilustres como a do Sr. Osmane
“Manin” cujo bar da Av. da Liberdade
fora o primeiro “ponto de ônibus” da cidade,
com os passageiros podendo saborear os famosos sonhos recheados com creme, feitos por sua esposa Dona Nita. Seus filhos todos começando com a letra A: Aderlande,
Adoísio, Adão, Aécio, Aloísio,
42 O Sr. Zeca e sua esposa dona Efigênia usou a última letra do alfabeto para dar nome à maioria dos seus
filhos:
Zélia,
Zilda, Zenaide, Zeolânia, Zeolivânia, (Colega de classe do menino com treze
anos, cursando o colegial.)
Zilene.
43 Esposo de D. Ana e pai de Deí, Elci, Dite, Lôra, Mazim, Nori....
Seguindo mais pro fundo do quintal, havia uma grande mangueira, que oferecia gratuitamente, suas doces manga espada e sua sombra, para refrescar os “pequenos”, em seus pequenos voos de vai e vem, assentados nos balancinhos, pendurados em suas galhas. Era usado também como lugar de concentração, ouvindo o balançar de suas folhas, juntamente com o canto dos pardais, para as colegiais, pra se decorar, decorar não; “memorizar” as matérias do Magistério que as suas irmãs cursavam, principalmente pela sua irmã Vainacilda, a mais estudiosa de todas. Não bastasse sua autoridade natural, por hierarquia, visto que o irmão mais velho já estudava em Montes Claros, sua irmã impunha muito respeito frente aos demais. Uma espécie de “guru” pra conselhos, e também puxões de orelha verbal, nos mais novos, muito serena e paciente. O seu esforço e dedicação, lhe permitiu cursar o “Normal”44 aos dezessete anos, e mudou-se para Cachoeira de Pajeú/MG pra exercer o ofício ao qual escolhera. Como era muito preocupada com o bem-estar dos mais novos, passado algum tempo, ela nos presenteou com uma, até então somente assistida pelas janelas dos vizinhos que a tinha. Uma televisão que vinha dentro de um móvel, com um vidro na frente.
Foi uma grande alegria, ainda que tivéssemos dificuldade,
pra ver com nitidez, o rosto dos
artistas da novela: A Viagem, Cabocla e os desenhos animados,
visto que talvez o sinal não fosse de boa qualidade,
ou a TV tivesse com problemas na válvula, não importava, o importante era assistir
a imagem preto e branco até que os olhos não lacrimejassem; porque aí dava-se uma
parada pra recompor, e ligar outra
hora. Mas não podia ficar até tarde da noite, deitado sobre as duas cadeiras
juntas em frente
à TV não. Senão perderia
aula no dia seguinte.
A grande árvore, também era usada como arquibancada, quando algum pássaro de metal sobrevoava a cidade, tentando localizar o campo de terra batida pra se aterrissar45. Ao primeiro som de seus motores, escalava-se os seus quase sete metros de altura, mais rápido que o avião, que passava quase por sobre sua cabeça, já em posição de aterrissagem para pousar no “campo de avião” que ficava a 1 km dali, abaixo da Av. Amazonas entre a Av. Caiçara e Rua Santo Antônio. Em épocas de campanha eleitoral, de Deputados e Governadores, já aconteceu de virem até quatro aviões, e a última galha do pé de manga espada, era disputada por mais de um expectador. Esse mesmo andar de cima, também era usado para sorrateiramente, se recolher as linhas das pipas que por ventura caíam, e sua linha passavam por sobre o quintal, as quais eram enroladas rapidamente, visto que era disputada por dezenas de outros moleques.
Até aparecer estas oportunidades, a única linha possível, era feita de pedaços de barbantes, principalmente os que vinham amarrados aos pães envoltos em papel, porque até então, a natureza não era invadida por essas inimigas sacolas plásticas. Mas como o barbante era grosso, e ainda cheio de nós, a pipa ficava no ar somente o tempo de uma carreira até à praça da Matriz, vindo a cair por terra.
44 Curso de Magistério
45 Eram pequenos aviões monomotores e muito raramente algum turbo-hélice eram vigiados pelo “senhor Catulino”, de pele escura que não deixavam os olhinhos curiosos dos moleques aproximarem muito dos aviões, principalmente o de “Joelão”
Parecia até, que moeda e menino nessa época, eram inimigos, visto que se encontravam raramente. E esses encontros fugazes, se transformavam em momentos de doçura, pelos doces e guloseimas, que fossem possíveis comprar com a rara moeda. Os suspiros, as geleias de três cores, as marias-moles, os doces de banana nos copinhos, eram comprados na venda do Sr. Zé de Zau ou do Sr, Purcino, este já na praça Januário Martins descendo a mesma rua. Também eram compradas as pedras de “anil”46 para alvejar as roupas, que depois de quaradas, eram batidas no batedor47. Já as famosas sandálias havaianas 31/32 e 33/34, o macarrão com o disputadíssimo lápis que vinha de brinde dentro da embalagem, eram comprados na “venda” do Sr. ”Gés Porto” ou no armazém do Sr. Artur. Onde vendia-se também, até meio quilo de açúcar em pacotes de embalagem de papel, porque eram tempos de dinheiro escasso.
O novo nome da rua, foi atribuído às “Famílias Pereira”,
que lá moravam, entre elas, a família do Sr. Sidnei Pereira, pai de
Claudinei Pereira48, que o levava em sua bicicleta verde, para o curso de contabilidade, no colégio que durante o dia, funcionava a FEBEM.
46
Tablete azul no mesmo formato
de tabletes de Caldo de galinha
47 Eram
obrigatórios ao lado de um tanque, com sua rampa levemente inclinada em 20
graus, que também servia de escorregador infantil.
48 Colega de classe desde o
colegial, e que o chamava
pelo apelido de “Perêra” ... “pererinha”
|
|
O Sarcófago49, era outro “camarote vip”. Mas como era um espaço muito concorrido, porque dava pra ter uma visão privilegiada, quase sempre ficava lotado, nas sextas-feiras santas, para assistir a atuação dos protagonistas do grande Teatro “A Paixão de Cristo”50
Apesar da sede, devido ao calor da grande aglomeração de espectadores, na plateia do grande espetáculo, não tinha como encontrar
a porta da igreja pra sair, e também se saísse, não tinha como entrar novamente -naquele que mais parecia um paiol de
milho socado, em tempos de colheita farta. Então tinha que ficar com sede, e
o suor escorrendo pelo pescoço, e pela testa, o qual logo abaixo, se encontrava com as lágrimas, que ensaiavam
a rolar, -pela face quente e avermelhada- provocadas pelo desenrolar do lenço de Maria Madalena, com o rosto de Cristo, impresso,
impregnado de sangue. O emocionante canto monofônico da atriz, cujo som, ecoava pelas grossas paredes, num silêncio de vozes, e
respiração extasiada, onde somente o
canto gregoriano, era ouvido, causando um arrepio, num misto de expressão de fé, angústia e serenidade, emocionando
toda a plateia.
A Paróquia de São Sebastião, localizada na Praça da Matriz,
cuja torre, pode ser avistada
de quase toda a cidade,
servia como referência pra todos, que porventura, se
embrenhasse nalguma rua de paralelepípedos,
ou nas de terra vermelha e perdesse o rumo, como também “pros” que fossem
hospedar na casa do Sr.
Adenor Pereira.
O segundo, foi o Frei Salésio Heskes –com seu inesquecível Jeep verde, com câmbio de quatro marchas– mas geralmente, o padre só usava até a segunda, terceira, no máximo. Padre que lhe serviu a primeira comunhão, depois de ter cursado a Catequese, com a catequista Ilza filha do Sr. Izalino Miranda. Os dois padres, moraram na casa paroquial em frente à igreja, atéo final de suas vidas. Ao se chegar na porta da casa paroquial, além do sentimento de religiosidade, daquele ambiente sacro, tinha o cheiro característico, do cigarro continental sem filtro, que o Frei Salésio usava. Cujo papel da carteira, era muito disputado pelos moleques e tinha os seguintes valores: Continental sem filtro –essa somente eram encontradas à beira da calçada da casa paroquial– valia Cr$500,00, as de Hilton Cr$ 100,00, as de hollywood e continental valiam Cr$ 10,00, as de arizona, somente Cr$5,00. Como as estradas eram de terra, as viagens entre uma cidade e outra demorava-se muito, e na cidade de Taiobeiras, pousava-se muitos viajantes, a julgar pelo grande número de hotéis e pensões existentes na cidade: Hotel Lisboa, hotel Taiobeiras, hotel Saraiva, hotel Brasília, hotel Lobo, hotel Mickey, além dos restaurantes Panelão e Globo. Tinha também outros locais, onde se encontrava muitas carteiras, as Boites: Penumbra, Jaqueira e Cabana –um ocal muito místico, meio underground– com suas paredes pichadas de figuras roqueiras, caveiras,meio assustador. O bar de “Tio” e “Martin Cardoso” –bar ao lado do mercado, onde seu irmão do meio Ronildo, trabalhava. Tinha quatro ou cinco mesas de “sinucão”. Esses dois últimos, localizados na Travessa Emetério Rodrigues. O hotel Neide (pensão de D. Bela), também na Travessa Emetério Rodrigues, era uma espécie de rodoviária, foi o segundo local, onde os ônibus faziam parada, para o transbordo de passageiros, no trajeto entre a cidade de Pedra Azul a Montes Claros. Vários moleques espertos, que ficavam ali na praça, ganhavam algumas moedas, como “marcadores de lugar” para os passageiros que iriam viajar. Assim que o ônibus parava, passavam as bolsas dos passageiros pela janela, aos que estavam dentro do ônibus, e eles marcavam previamente os assentos, senão, fariam todo o trajeto em pé, “que aliás era estrada de chão, desde a BR 116 até a cidade de Francisco Sá. Por isso, os marcadores de lugares, eram muito valorizados.
A cidade tinha uma vasta área a ser explorada, e encontrar muita matéria-prima para o objetivo final. Os papeis das carteiras, eram transformados em notas de dinheiro, usadas no jogo de bingo, joguinho de argola, que eram armados nas calçadas da Rua Francisco Sá, as quais também eram usadas pelas meninas pra se jogar “pedrinhas”. Além das carteiras de cigarro, tinha também outros itens de coleção. As disputadíssimas tampinhas de refrigerante, com figurinhas dos personagens de desenhos animados: Tio Patinhas, Zé Carioca, Pateta..., impressos na borrachinha da tampa e ainda as tampas de cerveja com uma letra do alfabeto em cada tampa, de A a Z (somente nas tampinhas de cerveja BRAHMA CHOPP).
Dia de Prova
Um grande salão com suas centenas de telhas em formatos de folhas coloridas em verde clara, verde escuro, amarelas e “arroxeadas” quando novinhas. As folhas já secas amarronzadas –remetendo às lembranças dos cenários de “Vidas Secas” de Graciliano Ramos– caindo compassadas, com o assoprar do vento, como que marcando o tempo. Devagar pras ideias não se misturarem, tal qual misturas homogêneas de ciências da 5ª série, onde se misturava leitura e raciocínio; lógico, que se gravava mais os sons da natureza, que os fonemas da matéria de português. O sujeito se passava entre vários predicativos, e às vezes, se tornava o próprio agente da passiva, da passividade, visto que o seu pensar, estava no presente, onde interessava mais o presente subjuntivo, do que um pretérito imperfeito, visto que o futuro era subjetivo e de varáveis analíticas.
Esse era o espaço mais adequado para se memorizar as matérias para o tão temido “dia de prova”. E quando era prova de arguição (oral), a voz ficava embargada, com mãos trêmulas e suadas feito ao estágio da água do sólido para o líquido, fazendo uma fusão de sentimentos. Tempo onde se traçava um paralelo, entre escutar os sons ou estudar –ainda que não soubesse resolver equações, nem retas paralelas– ouvindo as vozes ativas e passivas da natureza: O som das folhas balançadas pelo vento, o canto estridente da figa, beliscando as mangas espada, a orquestra dos pardais e o ronco do motor do pequeno tratorzinho de “Deca Lixeiro” com sua carretinha e seus dois fieis ajudantes, recolhendo o lixo. Subindo a Rua dos Pereiras, mesmo de longe, ainda se ouvia o roncar do pequeno trator, soava como “Música ao Longe” de Érico Veríssimo, que seria matéria de prova da semana seguinte. Não era Meu Pé de Laranja Lima, mas estava debaixo de uma grande mangueira, com sua galhada avultada, umas retas, outras angulares, com suas profundas raízes –não quadradas, mas raízes profundas e sinuosas– que à noite, suas galhas se tornavam “acentos gráficos” de gatos, saruês e andorinhas.
De tempos em tempos, ouvia-se o ronco de algum monomotor que sobrevoava em círculo a cidade. Ao primeiro som de seu motor, escalava-se os seus quase sete metros de altura –quase tão rápido, quanto a velocidade do som. O avião passava quase por sobre sua cabeça, já em posição de aterrissagem para pousar no “campo de avião” que ficava há mais ou menos um quilômetro dali, numa linha reta. A morfologia da palavra, matéria do caderno de português, contrastava com o mofo das mangas amadurecidas, já apodrecendo, que ficavam presas na folhagem densa, tornando caminhos intransitivos diretos. O seu olhar, se dirigia diretamente para o trânsito na vertical, das formigas em avenida de mão única, subindo e descendo o tronco da mangueira, onde os vértices dos triângulos equilátero, isósceles e escaleno, eram linhas invisíveis que elas traçavam, escalando o grosso tronco em fila única.
O sol traçando retas paralelas e perpendiculares –com seus feixes de raios luminosos, penetrando entre a folhagem, involuntariamente ensinando geometria, com seus ângulos: 90º ao meio-dia de sol a pino, e já em 45º à tarde, com o revoar das andorinhas com seus voos em elipse, já quase em posição de pouso para pernoitar na mangueira. Não tinha impressora, mas se imprimia com BIC bico fino, em pequenas tiras de papel em fonte 8,5 para serem retiradas sorrateiramente, do bolso na hora da prova –mas somente se não lembrasse da questão dada na prova. Muitas vezes eram engolidos –tão rápido, feito crianças em aniversário de nove anos, comendo os modernos papeis de arroz comestíveis para bolo– caso o professor suspeitasse e viesse na direção do infrator contumaz –mas só se "colava" era uma vez ou outra.
A grandeza desse universo, talvez fosse diretamente
proporcional ou inversamente
desproporcional, ao seu raciocínio, visto que o X da questão não era resolver x + y , e sim, prestar
mais atenção ao universo ao seu redor.
Pessoas, que se tornaram
personagens do cenário
e do cotidiano urbano da maioria das crianças de uma época.
Resilientes à sua própria condição,
desprovidos de necessidades prementes e de bens materiais, sempre foram pessoas
expostos às subjetividades humanas, muito pela sua aparência, mas pessoas muito dóceis, complacentes, cheias de gratidão e
as ações de solicitude, muitas vezes era um sorriso,
ou um aceno, ou um “Deus lhe pague” balbuciando palavras de gratidão.
“Sá Dona”, “Carolina”, “Bilú Tetéia” (Maria Rita), Bastiana, “Zé de Coleta” sempre era visto correndo nas ruas, decerto levando algum recado
ou encomenda. “Zuino”, “Lêga”,
“Cassiano” com seu misticismo de ser meio
bruxo, meio mago, que tinha o poder até de se transformar em um “toco” de madeira de árvore queimado. “Jula Doida”, com sua sandália de salto alto e seu batom
vermelho tomate. Enfim, cada um com sua singularidade e peculiaridade.
“Joaninha” com sua casinha minúscula, de um cômodo só, nos fundos da igreja, com seu telhado decorado com centenas de pedras, cacos de telha e cacos de vidro, que os moleques jogavam só para verem a pequenina senhora –de estatura baixa, tal qual sua casinha– nervosa e sapateando no seu pequeno quintal com alguns pés de andu. Não se sabe sua origem, nem se tinha parentes.
“Luquinha” que
misturava em sua capanga, tudo que ele ganhava, feijão, arroz tudo junto. Com seu sorriso
meigo e infantil, transformando seus gestos em palavras, que ao final era entendido
e já vinham com uma “vasilha” de arroz, ou feijão, onde era “despejado” em sua grande capanga
pendurada no seu pequeno e arqueado ombro.
“Manel Pichana” (Manoel Epifânio) defensor inveterado dos homens de política da época. Qualquer contrariação à sua idolatria partidária, era motivo pra sapateadas de uma esquina à outra, com um falatório desconexo e quase interminável, “meio espumante”, que às vezes fazia-se uma leve neblina, respingando no rosto de seus antagonistas, se estes ficassem frente a frente ao pregador.
Ainda tinha “Gláucia”, uma senhora de cabelos grisalhos, que quase todas as tardezinhas, estacionava sua bicicleta contra-pedal roxa, na calçada da Rua Francisco Sá nº 419. Era sempre recebida por sua anfitriã Melina, a qual era chamada de “Melinda” por esta senhora. Voz meio grave e cabelos sempre por pentear, denotando não só a sua idade, mas também sabedoria, incompreendida por muitos, é claro. Decerto, tinha uma trajetória de vida desconhecida, certamente tivesse bastante conteúdo nas entrelinhas da vida, tal qual os recortes de revistas trazidos consigo. Mas assim como os dizeres dos papeis, iam se apagando pelo suor das mãos, de tanto transportar, suas memórias também, certamente, se esvaíam em suas andanças. Talvez esses fragmentos de papéis, fosse a sua identidade, o seu diário psicológico, de um mundo paralelo, um mundo introspectivo, surreal, de uma realidade crua. Talvez se justifique sua visita longa e demorada, entre uma tragada e outra, e vários goles de café. Todos que a conheciam, costumavam falar: Gláucia era do “dia grande” –expressão usada para pessoas que iam na casa dos vizinhos, e demoravam a sair– talvez fosse pra encurtar a solidão, no convívio com pessoas reais, pessoas do mundo real, sensíveis à sua história de vida.
Sementes ao Vento
Como sempre teve interesse em conhecer e entender os elementos da natureza, e as coisas do mundo, por ironia na sua chegada em São Paulo já em 1995, uma das primeiras coisas que descobriu, foi onde se cruza a linha imaginária do Trópico de Capricórnio no Sudeste do Brasil. Avistada de dentro de um coletivo, uma placa afixada à Beira da Rodovia Presidente Dutra, no Bairro de Cumbica em Guarulhos/SP, onde estava escrito: Aqui cruza o Trópico de Capricórnio. Isso depois de ter passado antes, em frente de uma fábrica da Toddy. Quando criança, sempre indagava consigo mesmo –onde será que é fabricado esse chocolate tão gostoso que sua mãe misturava ao leite e o servia num copo americano– o qual no fundo, tinha impresso em alto relevo um N. Por ironia, no seu primeiro emprego em São Paulo, o ônibus parava em frente à uma das fábricas da Nadir Figueiredo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, Vila Maria em São Paulo –mais uma curiosidade satisfeita– onde trabalhou por três meses , vindo a mudar de emprego posteriormente. Passado uns dois meses, estava ele, sentado embaixo duma grande árvore, de folhas largas, à beira da Rodovia Via Dutra, no Bairro Ponte Grande em Guarulhos/SP, próximo de onde morava. Estava observando os aviões em seu ritmo frenético, de pousos e decolagens no aeroporto de Cumbica, que ficava bem próximo. E com o pensamento nostálgico, lembrando do tempo de infância, em que ficava vendo os pequenos aviões sumirem por entre as nuvens. Mas agora, eram os enormes Boeing 747, e em função da quantidade, já não tinha o mesmo fascínio de infância. Mas por ironia, ao lado dessa grande árvore, estava como de propósito, havia uma paineira, com seu tronco de bojo, cravejado de espinhos, que lhe remeteu no tempo. E como a imaginação não tem limites e nem fronteiras, se lembrou das paineiras onde morava “João da Mamuda”, que era o mestre do ofício em fazer as gamelas que sua mãe usava para amassar os queijos, e fazer biscoitos e bolos, – que aliás, era uma iguaria disputada, todos queriam segurar a gamela pra ela bater o bolo– porque no final, tinha o ritual da “raspagem da gamela”, era muito apreciada. Nessas paineiras, era o lugar onde o menino de dez... onze anos, juntamente com seus amigos inseparáveis, iam com as varinhas envoltas em visgo, para se pegar os Pintassilgos, que podia se ver em grande número, somente naquelas centenárias e majestosas “mamudas” (paineiras). Com suas enormes barbas de velho (uma espécie de bromélia) esbranquiçadas, como as barbas do saudoso escritor e educador nordestino Paulo Freire.
Era um ambiente meio hostil, onde pra se chegar tinha que atravessar por entre capim, espinhos de “serrote” e jurema, quebrar muitos galhos de alecrim, –cujo cheiro canforado, ficava impregnado por entre os dedos–, mas quando se chegava, toda as adversidades, era compensada por uma visão maravilhosa. Próximo dali, morava o Senhor “Liozinho”. Sua casa fica “encravada” no alto dum boqueirão, quase ao pé da Serra do Anastácio. Um senhor que escreveu sua história residindo nessa casa, e mesmo depois de sua partida, sua presença ainda é muito viva, visto que fora sepultado num pequeno cemitério ao lado da casa, onde também estão outros membros de sua família. No tempo de infância, o menino com uns dez onze anos, juntamente com seu irmão Ronildo, e os amigos Juelí, Daço e outros, iam buscar o pendão seco da piteira pra se fazer gaiolas –cujas folhas verdes, eram usadas como sabão pra se bater e lavar os quartos de tijolos de ladrilhos brancos da casa de sua mãe, Dona Maria Júlia.
Era um lugar fascinante, com plumas flutuantes. Pequenas
sementes de paineira, envoltas em sua
fina lã, que eram levadas ao sabor do vento para lugares longínquos e incertos, dando continuidade da criação
de Deus. Tinham enormes lajedos e rochedos decorados com “cabeças de frade”
uma espécie de cactos, com seus espinhos
como se fossem pequenas
espadas desembainhadas, nada hospitaleiros; mas ao mesmo tempo sutil, como se dissessem, –aproxime-se, mas com cuidado.
E ainda lhes ofereciam umas cápsulas vermelhas cheias de um líquido doce muito apreciado
pelos “moleques”, que ajudava amenizar a sede, que só era saciada por
completo, ao descerem no olho d’água,
uma mina d’água que ficava logo abaixo, após pular as centenárias cercas de pedra, onde as seriemas, desciam das
pedras para matar sua sede.
Pedra Sobre Pedra
Imponentes e centenárias, essas cercas de pedras, foram erguidas por homens de pele cinza, de roupas cinzas, de olhares cinzas, de sorrisos cinza. Aliás a paisagem também cinza, muito talvez, pelas cinzas dos capinzais que mesmo queimados ao longe, viajavam ao sabor dos ventos e sutilmente pousavam na aba do chapéu dos homens cinza, que esfregava a testa pra que seu "suor sagrado" não escorresse e inundasse seus olhos cinzas.
O prato só viria ao cair da tarde, trazido pelos homens de pele cinza, mas agora com o olhar não mais cinza, mas com sorrisos estridentes entre uma tragada e outra no cigarro de palha, feito caprichosamente, depois de ter esfarelado o fumo entre as palmas das mãos calejadas e descamadas, pelas tantas pedras apanhadas e empilhadas durante o longo dia. Após esfarelar o fumo, nas palmas de mãos já calejadas, pra mais um aprazível cigarro, e com a palha entremeada entre os dedos, passava-se ligeiramente na língua para amaciar a palha, derramava-se o fumo, e após fechar, acendia com o boque – uma espécie de isqueiro rústico– confeccionado da ponta de chifre, enchia-se de algodão pré-queimado batia-se uma pedra de cristal em um pedaço de ferro fundido e pronto, estava acesa a fagulha do tão apreciado cigarro, depois tampava-se com a tampa feita de cabaça, selando assim, mais um dia de labuta.
Mas com o início do mês de setembro já com o prenúncio das chuvas, em poucos dias, após as primeiras chuvas, as “pedras cinzas” ganhavam uma tonalidade esverdeada pelos lodos e limos que as envolvem, trazendo mais vida em um ambiente que outrora era cinza e hostil, mas que agora resplandece de vida e de um brilho intenso. Talvez seja o brilho dos olhos cinzas, que agora brilham de alegria, ao verem o verde que cobre toda a paisagem, e com um belo arco- íris, como que coroando um cenário, com um misto de beleza e rusticidade, com o João-de-barro, anunciando o raiar de um novo dia –com sua casa sabiamente, construída em uma paineira, com a entrada voltada ao contrário do “assopro” das chuvas, para que não inunde seu castelo, de um cômodo só– com pássaros de olhos coloridos, cantando e pousando na cerca de pedra, que foram erguidas para delimitar e demarcar limites, mas os pássaros não conhecem esses limites, e transgridem graciosamente as leis da natureza, na qual o homem tenta impor limites. Na jornada de retorno dessa pequena aventura, que ficava a uns três quilômetros de casa, mas ocupavam-se quase que o dia todo, passavam por uma chapada, para apanhar cagaita, e umbu, frutas típicas dessas vegetações. O umbuzeiro, com seus inúmeros galhos retorcidos, eram escalados por esses meninos com muita facilidade, para apanhar o doce e ácido fruto, e depois de muito tempo dessa caminhada suspensa, desciam com os mais diversos desenhos arranhados e rabiscados nas pernas e braços.
Outro
lugar de grande fascínio, era a Serra do Anastácio. Depois de uma exaustiva escalada, ora parando pra descansar,
ora pra tomar a água gelada que
brotava de suas matas, passava-se numas casinhas,
que tantas vezes foram vistas somente de longe, quando à noite, os moradores acendiam um fogo para se aquecerem em épocas de frio intenso, chegava-se ao cume. De
onde aquele menino, ficava deslumbrado
com uma visão magnífica. Podia avistar o mundo além de suas fronteiras imaginárias. O vale da gameleira e boa sorte,
com suas casinhas do tamanho de um
grão de arroz, à beira do rio, que ia desenhando
o vale com seu traçado sinuoso, e suas águas apressadas, até desaparecer por entre as colinas. Ao longe, via-se umas
grandes rochas pontiagudas, que mais pareciam grandes
agulhas negras, devido à grande distancia em que se
encontravam. A descida era por entre
as matas à beira do rio, banhando em suas cachoeiras de águas cristalinas.
Essa vida pacata e bucólica,
que se estendeu por muito tempo, mesmo depois da infância. Depois de ter
estudado até o 2º Ano de Contabilidade,
o curso havia acabado, até então aquele menino, agora com dezessete anos, não
estava frequentado a escola. Mas em um belo
dia de domingo, estava ele lá em mundo rural, todo feliz, e sua irmã Silma chegou e disse-lhe
que era pra ele ir para Taiobeiras, que o curso iria
recomeçar já na segunda-feira. Esse anúncio lhe causou um sentimento meio confuso, estava alegre por ter a chance de continuar
a estudar, mas também triste porque iria
deixar pra trás, toda aquela vida tranquila, e sem muitas preocupações. Relutou
muito, mas depois ela o convenceu a ir, talvez não fosse por ela, não teria terminado
o Ensino Médio.
Memórias Escolares
As primeiras lições,
foram no jardim de infância,
cuja professora chamava-se D.
Maria José. Ainda se lembra de um passeio em
um sítio, choveu muito, e o menino com sua jardineira vermelha, chegou em sua casa com o bolo, que havia
levado na lancheira, todo molhado.
Esse passeio ficou muito tempo no seu imaginário, sem saber em que lugar foi realizado, mas tempos depois,
se descobriu que era em lugar bem próximo da cidade,
mas na época se imaginava que era um
lugar longe, onde se chegava depois de percorrer uma grande estrada bastante empoeirada.
Na primeira série, estudou na E. E.
Deputado Chaves Ribeiro, de Taiobeiras, de 1ª à 4ª Série, e a professora da 1ª
Série, chamava-se Dona Iva. Nessa época, a cidade contava somente com três
escolas: a Deputado Chaves Ribeiro, a Escola Estadual e o Grupo da Barragem
(atual Escola Dona Betí). O Grupo de Ferro (atual Secretaria da Fazenda- Rua São
Romão) já estava desativado.
Como estudante, não podia ser diferente, tinha uma coleguinha
que sentava atrás dele, e na sua imaginação, seria sua namorada, coisas de
criança. E naquele tempo, as coisas eram muito difíceis, mas ainda assim, tinha
sua lancheira plástica meio roxa, de tampa
branca com garrafinha para o suco de groselha ou laranja, a qual esquecera na carteira,
e no outro dia não a encontrou mais.
Na quarta série teve uma história curiosa. A professora elaborou uma prova, e jogou o rascunho no lixo, e seu colega Marcio “Mação” pegou e respondeu e lhe mostrou, mas achou que fosse brincadeira dele, um dia após a prova, a professora chegou e chamou por Marcio, e disse: “esse é um aluno aplicado, tirou total na prova” e o menino calado pensando, - eu também poderia está recebendo esses elogios-, mas enfim, é melhor estudar do que colar.
Ao terminar a aula tinha que percorrer nada mais que um quilômetro, mas pra uma criança de 10 anos, esse percurso se torna cheio de obstáculos visuais, como as paradas em frente à loja do Senhor “Tezinho” para assistir desenhos nas televisões que ficavam expostas para venda. Esta loja, era uma espécie de loja de departamento, onde vendia de quase tudo: tecidos, relógios, rádios, artigos de papelaria, bicicletas, eletrodomésticos, móveis, equipamentos agrícolas, material de construção e até urna funerária. Numa fatídica noite, da década de 1980, o Senhor Tezinho fora assassinado, por bandidos, que com o pretexto de se comprar um “caixão”, o chamou em sua casa, que prontamente atendeu ao chamado, mas era um plano para assaltar. Foi uma grande comoção na cidade.
Tinha ainda no mesmo prédio, o bar-mercearia, ponto de encontro dos fazendeiros da região, que
se encontravam aos sábados. Entre um gole e outro e um esfarelar de fumo bom, nas palmas de mãos já
calejadas, pra mais um aprazível cigarro
de palha, falavam de negócios, política, enquanto apressavam o valor
de uma foice, ou um engenho
novo.
Como o sol das onze horas já se fazia quente, tinha que descansar um pouco, no meio da caminhada. Uma outra parada, quase sempre, era em frente à velha casa da esquina da Rua Bom Jardim, com a Avenida da Liberdade, com suas altas calçadas de pedra e suas centenárias Jaqueiras.
Casa do Sr. Geoberto, pai de Carlos, Roberto “Boreta”(colega de classe no primário)...
Ao final do ano, tinha a expectativa e a ansiedade de conferir logo o boletim escolar, já na euforia de mais um período de férias na fazenda. Mas quando se abria o boletim, e às vezes tinha ficado de recuperação em alguma matéria, aí esse resultado lhe causava uma certa frustração. Os seus irmãos maiores sairiam de férias, enquanto ele tinha que ficar com sua irmã Leni, na casa de Dona Delcí, até acabar o período de recuperação escolar. A hora pra ele tomar banho e arrumar para a escola, era marcada quando o sol iluminasse a soleira da porta da cozinha, e uma outra dentro da cozinha, o aluno já teria que está na escola. Em um desses dias, a dona da casa saiu e encarregou essa sua irmã, dessa responsabilidade. Mas como sua irmã era ainda uma mocinha pequena, e ele menor ainda, confundiram as marcas que anunciavam as horas. Quando Dona Delcí chegou deu-lhe uma bronca, porque o sol já clareava a marca de dentro da cozinha, ou seja, o menino já tinha perdido aula, e ela ainda estava arrumando seu irmãozinho para ir à escola.
A casa ficava em uma avenida de terra avermelhada, já quase no final da cidade. Quando ele vinha da escola, depois de virar a esquina da velha casa da esquina da Rua Bom Jardim com a Avenida da Liberdade, e logo depois de curvar a esquina do conceituado hotel Lisboa, ainda tinha mais de um quilômetro de poeira para percorrer. Era uma jornada bem comprida para os pequenos passos de uma criança de dez anos, que já viera cansado desde a Rua Osvaldo Argolo.
Escola Estadual de Taiobeiras, atual sede da Prefeitura M. de Taiobeiras
Na 6ª Série, ele havia desistido antes do final do ano letivo, teve até uma colega de classe, que foi até sua casa pra saber o que estava acontecendo, mas ele não quis terminar, e passou o restante do ano na fazenda. No ano seguinte, dedicou-se mais aos estudos, teve até um teste de Matemática em que conseguiu nota máxima, foi uma alegria muito grande pra ele, porque era uma disciplina na qual tinha muita dificuldade. Pelo fato de ser ser muito tímido, talvez sempre saía prejudicado. Devido as constantes faltas, no dia seguinte sempre era sequência na matéria do dia anterior, e como tinha vergonha de perguntar aos professores para repetir a explicação, não conseguia assimilar e dar sequência à matéria proposta.
Um fato que hoje é muito engraçado de se lembrar, mas na época era uma tortura, intensificado talvez, pela timidez. Em uma aula de Geografia, a professora “Tia Lila” pegou o seu pequeno caderno, para ficar gesticulando e explicando a matéria, e ele pensando, –pronto! e se ela esquecer de me devolver– dito e feito. O sinal que toca, o coração que acelera, e ela juntou seu material com o seu singelo caderninho de arame. Retirando da sala, passou em frente ao aluno, que entre o ímpeto de arriscar a falar com a professora e pedir o seu caderno de volta, se conteve em sua carteira desacelerando sua pulsação. Já pensando na trabalheira que teria, para copiar toda a matéria em outro caderno que teria que comprar e transcrever meio semestre de matéria, do caderno de um de seus colegas.
Os professores eram muito dedicados e vocacionados. Dona Alci professora de Português, jamais esquecerá de suas lições de gramática e conselhos. A professora de Matemática, Dona Terezinha (Maria José Ruas Barbosa), que às vezes ficava rouca de tanto explicar a matéria, era muito generosa. Em uma de suas aulas, teve outra situação, não constrangedora, mas de um certo alívio. Onde o aluno teria que explicar na frente para os demais. Ela percebendo que aquele aluno estava ficando muito tenso e nervoso, a cada minuto que passava, ia mudando de cor: ora pálido, ora amarelado, ora vermelho de lábios acinzentados, e a sua vez estava aproximando. Então ela lhe propôs que a nota da explicação de um outro aluno, seria também pontuada a ele. Ele mais que depressa aceitou, não imaginando ela, o alívio que deste àquele menino. Na hora do recreio, tinha uma senhora que vendia umas rosquinhas na escola, e muitas vezes ele ficava só olhando, e uma vez ou outra, ele levava uma moeda, aí o recreio ficava mais doce.
Uma lembrança, ou melhor, um cheiro que ficou e está impregnado para sempre, na história e na sua memória. É o cheiro dos livros novos do colegial, que sua mãe comprava. Eram comprados com o dinheiro das vendas dos queijos, mas só dava pra comprar os mais essenciais, de Português, Matemática e talvez Geografia, no máximo, o restante tinha copiar dos colegas. Era a maior alegria, abria-se os livros não somente para estudar, mas também para se sentir o cheiro de “livro novo”. Como ainda não eram tempos modernos, as pesquisas eram feitas na biblioteca da cidade, nas famosas enciclopédias Barsa. A bibliotecária, “Neza”, bastava os alunos te falarem o assunto, e ela já entregava o livro aberto já na página do assunto a ser pesquisado, e escrevia-se a pesquisa em folhas duplas de papel pautado.
Após terminar o Ensino Fundamental, seu pai lhe perguntou, se queria estudar na Escola Agrícola de Salinas ou Contabilidade, e optou por contabilidade. Foi uma época difícil, porque era escola particular. Hoje ele agradece muito a insistência e o incentivo que sua irmã Silma lhe deu. Tudo na vida é um aprendizado, e só aprendemos com os tropeços e dificuldades.
A sua irmã mais velha, Vainacilda, que muitas vezes, o chamava pra acordar às seis horas da manhã, com o rádio ligado na rádio globo, na casa de chão de ladrilho, da rua Grão Mogol51. Alguns cadernos, eram confeccionados por ela, com as folhas que ficavam sem usar dos – cadernos pequenos– da terceira e quarta série. Arrancava-se as folhas, juntava, perfurava com um ferro quente, e fazia um caderno costurado artesanalmente. Dessa casa, se lembra também que ele e “Carlim” filho de Dona Maria, iam tirar pinha no fundo de um quintal que mais se parecia uma fazenda, de tão grande que era. Um velho muro de adobe, servia como brinquedo de desmontar peça, e o inesperado “estrondo” dos grandes adobes desmoronando, causava uma espécie de “vixe e agora” com os desmontadores saindo de fininho pelo portão da rua.
51 quando
eles moraram por um tempo, enquanto a casa da rua Francisco Sá, de paredes
verde- desbotado, de platibanda branca, era reformada.
Dias de Espetáculo
Nas tardes de domingo um menino de nove, dez anos, descia a avenida da liberdade a pé, com destino ao campo da ATE (Estádio 13 de Maio). Ficava na portaria, até o porteiro mandá-lo entrar, para assistir às partidas entre Minas Esporte Clube e ATE, dois times rivais da cidade. Era muito confuso, seu time de coração era o Minas, mas ficava emocionado ao ver o time da ATE52entrar em campo, com suas camisas verde-vivo –como samambaias vistosas, com folhas brilhantes, nos barrancos úmidos à beira do rio.
|
O time do Minas, chamava-se Shell, devido o seu patrocinador, ser dono do posto de bandeira dessa distribuidora de combustíveis. E trazia o seu logotipo vermelho e amarelo, cravado no peito esquerdo das camisetas. Esses dois primeiros, eram time de muito respeito, considerado times da elite, e até dos intelectuais. Mas tinha ainda, um terceiro time, o time do J “JK”. Sua sede na vila formosa, entre o quarteirão: da Av. São João, Rua Bom Jardim, São Francisco e Pirapora.
Time do MINAS
Time do JK
O time do Minas53 treinava num campo –também de terra– na cabeceira do campo de avião. Onde também, eram realizadas as aulas de Educação Física, dos alunos estudantes da Escola Estadual, com o recém-chegado, professor de Educação Física54, com seu FIAT 147 marrom desbotado. Foi também, quem idealizou o segundo cinema da cidade, o cine TRIANON55 cujos filmes king kong –com aquele imenso rosto projetado tela era assustador, os moleques ficavam grudados na poltrona– e o filme PAPION, foram os primeiros filmes assistidos em tela grande pelo expectador, em estado de êxtase e suspense.
No trajeto para o “campo da ATE”, parava num bar ao lado do mercado, onde seu irmão do meio Ronildo, trabalhava. Assentava-se meio tímido, assistindo televisão, e seu irmão lhe perguntava se queria alguma coisa, mas ele, sacudindo a cabeça negativamente, mas talvez querendo, dizia que não. Mas depois de alguns minutos, seu irmão voltava com um copo duplo de vitamina de abacate. Era uma das coisas mais saborosas que ele acabara de ter conhecimento, porque até então, ele conhecia abacate amassado com um garfo, mas tão cremosa e feita em um liquidificador, era a primeira vez.
“... A comadre serviu um café com uns pedaços de bolo, minha mãe comentou:
-que bolo gostoso, foi você que fez?
–Não, é bolo de padaria –respondeu a comadre.
Pronto! Estava gravado para sempre na minha mente o nome e a fonte da coisa mais deliciosa que eu já tinha comido por toda minha existência.”56
54 Menos rígido, que o professor de Ed. Física do seu irmão Ronildo, em épocas de colegial. O professor “Cabo Assis, da policia militar, professor muito disciplinado e rigoroso.
55 Atual Câmara
Municipal de Taiobeiras
56 Trecho do livro Os Donos do Céu – Diário de um peregrino pelo caminho de Santiago de Compostela (Valdir Leite Queiroz)
Isso ficou marcado tanto quanto o primeiro guaraná que seu irmão mais velho, Sinvaldo, o convidara pra tomar no restaurante globo. O primeiro gole, fora devolvido pelo nariz, visto que era uma novidade57. Ele só tinha costume de tomar as moreninhas, que um senhor chamado “Horminio” vendia na feira de sábado, era caldo de cana, com uma colher de chá de bicarbonato.
Numa dessas tardes de domingo, duas folhas de papel retangular, rolavam pra lá e pra cá, em meio à terra da rua Guarani, em frente à bilheteria. À primeira vista, não tinha certeza, eram folhas de papeis de cor meio avermelhada, meio rosada —igual a folhas de manga rosa em épocas de broto novo— depois de se aproximar um pouco mais, ainda meio receoso, constatou que eram duas notas de dez cruzeiros. Imediatamente um misto de emoções se confundiam: alegria suspense, ansiedade, coração acelerado... Isso ficou marcado tanto quanto o primeiro guaraná que seu irmão mais velho, Sinvaldo, o convidara pra tomar no restaurante globo. O primeiro gole, fora devolvido pelo nariz, visto que era uma novidade57. Ele só tinha costume de tomar as moreninhas, que um senhor chamado “Horminio” vendia na feira de sábado, era caldo de cana, com uma colher de chá de bicarbonato
57 Por ser rara, assim como uma moda pra comprá-la, uma simples fanta, era compartilhada, por quatro ou cinco moloques. Quando iam tomar banho na Cachoeira do “Tocão” e como a água era bem fria, colocava-se para gelar. Pra se servir, fazia-se um pequeno furo com um prego, pra que todos pudessem saciar sua sede.
“No fundo da ferragem faísca,
lilás, o feitiço.
Roxo, sim, espelhando a tardinha que sangra o céu bem no meio do caminho que o rio abre
mata acima. Lilás, não: rosa — rosa-claro, rosa- nuvem, que é cor-de-rosa a lindeza da fofa braçada de paina que
o vento acabou de empilhar frente ao sol que descai. Ai!
É amarelo, é azeiteiro — flor do vinhático que
se debruçava sobre a rasoura de
pedra. Não: é azulado que nem o céu, verde que
nem a folhagem do mato, limpo que nem a água do rio. O garimpeiro enxuga os olhos: a pedra ofusca a vista.
Sombreia-a no oco da mão, esconde-a
dos doidos reflexos coloridos, procura a jaca. Nada — torra nenhuma, urubu nenhum, bolha nenhuma, nenhum defeito. Pedra puríssima,
diamante da melhor água.
E agora? Tem perigo não: meia-praça não conhece conflitos de consciência, não demora maus pensamentos na cabeça boa. Esquece que ele, só ele, foi quem achou o diamante; que ninguém viu, ninguém sabe; que testemunha, apenas o surdo-mudo do sertão...”58
58 Trecho do Livro Vila dos Confins - Mario Palmério (o caboclo que acha um diamante)
Não valia como um diamante, mas causava emoção igual. Aproximou-se mais ainda, e num ímpeto –pro vento não as levar pra longe– pisou em cima, uma sob cada pé, e ficou imóvel, feito poste, com medo de abaixar e apanhar o tesouro. Alguém poderia está vendo todo aquele drama –que mais parecia apreensão de menino na fila, para confessar com o padre, pela primeira vez, antes da cerimônia de primeira comunhão– e o repreender. Até que depois de algum tempo, mexeu-se, e com as mãos suadas, apanhou terra, juntamente com as duas notas, apertou-as na mão e saiu à procura do seu irmão do meio, para entregar-lhe o “tesouro”. O irmão mais velho certamente saberia administrar melhor e não gastar por impulso, uma quantia tão elevada. Daria pra comprar muitos picolés e espetinhos, e ainda sobraria troco.
Terminado o espetáculo, abria-se o portão da Rua Guarani, impregnada de cheiros: cheiro de laranja, cheiro de churrasco, –dos famosos espetinhos de “João do espetinho”– cheiro de doces, da banca do Sr. Miro, –que também tinha seu ponto cativo de sábado, na porta do mercado. Ao final do jogo, tinha-se um saldo de um ou dois atletas, com as canelas vermelhas de merthiolate, onde quase sempre, o jogador “Pelado”59 sem querer, teria escorregado sua chuteira, na canela de algum adversário, fazendo um “rasgo” que o tirara de campo. A molecada saia correndo rumo à Praça 13 de maio. Uma área descampada, de terra, com algumas árvores. A praça cruzava a Rua Conrado Rocha e finalizava na Rua Rio Pardo, acabando ali a cidade, pois já encontrava o mangueiro do Sr. Tezinho.
O grande estacionamento, ficava lotado de veículos em dias de jogo, entre eles, a mercedes 1113, vermelha, do Senhor Sidnei Pereira60. O estádio, ficava à “longa distância” de menos de três quilômetros, daria pra ir a pé. Mas as pernas já estavam esgotadas, de tanto andar no campo, procurando uma brechinha entre a multidão, pra assistir ao jogo, uma viagem de carroceria, não podia perder essa oportunidade.
–Uma corda delimitava a área do campo com a geral, a fumaça dos churrasquinhos, se misturava ao poeirão, com a vibração na hora dum gol–. Vinham todos agarrados no gigante61. Devido ao tamanho dos meninos, o gigante se tornava deveras, quase um gigante.
59 Atleta do time do Minas, irmão de Gina, filho do Sr. “Fiinho”, moradores também da Rua Francisco Sá.
60Também morador da Rua Francisco Sá.
61Parte alta da carroceria, que fica atrás da cabine de caminhões e caminhonetes.
Uma euforia tomava conta da molecada, ao ver as velhas carretas com um amontoado de ferros coloridos. Era o parque que chegou. Os parques se instalavam na praça da matriz em épocas de festa de maio. Com os caminhões ainda em movimento, dava pra ver entre os ferros, os cavalinhos coloridos, pelos olhos eufóricos do menino, que logo após a montagem, se tornava ajudante de parque, lavando os sorridentes e coloridos cavalinhos pra ganhar uma ou duas voltas no brinquedo galopante.
O circo chegou... almoçava-se rapidamente, e logo já estava na Praça Tiradentes. A tarde depois da aula, se tornava pequena demais, pra se ver todos os animais do circo: cachorrinhos que deslizavam sobre bolas, chimpanzés malandros, leões famintos, com suas barrigas arqueadas, em formato de bodoque, em suas jaulas enferrujadas cheirando a cavalo morto. No dia da tão esperada estreia, a cidade se agitava. Uma veraneio velha, ou uma caminhonete, sempre multicoloridas, puxando a jaula com os famintos leões, anunciando pelo seu alto-falante62 afixado no teto do veículo: –hoje tem espetáculo– e as noites se tornavam mais alegres, com as gargalhadas arrancadas por aqueles personagens de caras brancas, sapatos enormes e calças largas de suspensórios.
Ele sempre teve muita admiração por seu irmão do meio. Visto que com ele, vivenciou boa parte de sua infância. Sempre muito esforçado, e desde adolescente já trabalhava em vários lugares na cidade. E ao chegar em casa, dava para aquele menino de dez anos, suas primeiras notas de um cruzeiro. Este irmão juntamente com seu amigo, Milton Bandeira, confeccionavam cabrestos, feitos artesanalmente, com um tipo de corda de nylon, e as pontas eram finalizadas a fogo da luz de candeeiro, para serem vendidos na feira. Quando seu irmão fora morar na cidade de Montes Claros, ele sentiu muito a sua falta, por ser um irmão que sempre lhe espelhou como exemplo de luta e perseverança, sempre muito ativo e um cara muito bem “descolado” e cheio de amigos.
Ficarão impressas pra sempre em sua memória, as atitudes gratuitas e espontâneas de generosidade de seu irmão do meio para consigo. Seu primeiro copo duplo de vitamina de abacate, suas primeiras notas de um cruzeiro. A sua preocupação ao chegar da aula - Seu irmão Ronildo estudava à tarde na E. E. de Taiobeiras na Praça da Matriz, atual prédio da Prefeitura. Ainda se lembra da maneira dele levar os cadernos pra escola. Um sobre o outro, seguro junto à cintura, na posição vertical, com as canetas entrepostas entre o arame –era modo usual entre os jovens– numa tarde em que seu irmão de dez anos tinha chegado do tratamento da picada do escorpião, e ele passou a mão em sua cabeça, num sinal de alívio por revê-lo, são e salvo.
As dezenas de vezes em que ele lhe proporcionou muita emoção ao deixar um menino de nove dez anos, andar em sua bicicleta recém-comprada ano 1977. A barganha muita justa, era encher o balde do chuveiro63 com água morna, suspender com a carretilha, e pronto, enquanto seu irmão do meio tomava banho, dava pra se rodear duas três voltas no quarteirão das Ruas: Francisco Sá, Santa Rita de Cássia, Araçuaí e Grão Mogol, passando em frente à oficina do Sr. Bilo64, e às frondosas jaqueiras –nome também dado a uma boite “Boate Jaqueira”– que ficava embaixo dessas grandes árvores. Uma grande conquista, pois já se sabia andar assentado no quadro, e não mais precisava andar meio arqueado, pra lá e pra cá, com a perna entre o circulo, ao centro do quadro da bicicleta –que era a maneira de se aprender– porque as bicicletas para crianças, eram muito raras de se ver. Pra se sentar no selim, ainda iam umas duas ou três estações.
64 onde trabalhava
o funileiro “Pirulito” um senhor alto, magro, que muitas vezes fez a lanternagem da pick-up ano 1977
do Sr. Adenor Pereira.
As Voltas que o Mundo Dá
Essa história tem início nos anos de 1999, ou melhor em 1995, ano em que ele foi morar em Guarulhos/SP. Trabalhava numa Empresa de Transportes (ATLAS TRANSPORTES), de 19:00 às 04:00 da manhã. Em 1999 fora contemplado em um consórcio que já vinha pagando desde 1995, foi a maior alegria quando ele pegou a moto STRADA CBX 200, a maior emoção de um sonho realizado, objetivo conseguido com muito esforço e suor; retirou a moto na Guarumoto, desceu a Av. Esperança, passou no posto, esquina com a Rua São Francisco de Assis, mandou encher o tanque todo orgulhoso, passou pela Praça Getúlio Vargas, desceu a Rua Capitão Gabriel, saindo no Largo Dom Luiz Gonzaga, desceu a Av. Tiradentes e adentrou na Via Dutra, no sentido Cumbica (Parque Brasília) apreensivo, sem saber se daria conta de pilotar entre tantos caminhões, mas “tirou de letra”.
Após seis meses,
precisamente no dia 21/06/1999, por volta das 18:00
horas num início de noite fria do mês de junho, fora abordado por dois bandidos ao se aproximar para
subir numa passarela sobre a Via
Dutra, que levaram seu sonho, (parece até
uma Ferrari, mas é aquela coisa,
foi minha primeira aquisição) que
tinha apenas seis meses
de uso, quem já passou por situação semelhante, sabe que é bem constrangedor e humilhante, ficar na mira de uma 765 niquelada, são minutos que parecem uma eternidade. Desde
então jamais teve a esperança de reaver visto que roubavam para
desmontar e vender as peças.
Dias antes de receber a visita do carteiro, ele tinha assistindo a um programa de televisão, onde se tentava
encontrar o primeiro
caminhão do Pai do cantor Daniel, um FORD 1968 vermelho. Encontraram um igual e restauraram, mas
“não era ele” como disse o pai de Daniel, muito emocionado. Enfim, tem que ser o mesmo objeto pra compor verdadeiramente a
história. Uma outra moto não teria o
mesmo simbolismo e importância, de um objeto que fez parte de uma história e seria uma forma de um
triunfo revê-la, para fechar um ciclo.
“Eu creio que a memória tem uma força de gravidade que sempre nos atrai. Os que têm memória, são capazes de viver no frágil tempo presente; os que não a tem, não vivem em nenhuma parte”
Patrício Guzmán (diretor de cinema chileno).















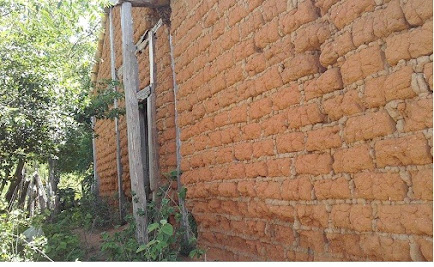




























Nenhum comentário:
Postar um comentário